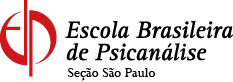Sintoma, clínica e política
Marcus André Vieira (AME membro da EBP/AMP)

United symptons
Os sintomas há muito deixaram de ser um empecilho. Um sintoma pode ser um modo de vida, em prolongamento com relação à subjetividade. Essa é, segundo Miller, a chave do Um-dividualismo contemporâneo (Miller, 2012).
O pressuposto é: Você tem direito à sua loucura ou a seu vício, desde que isso não atrapalhe a ordem pública ou te leve à morte. Se for preciso, renuncie ao comportamento que é sintoma, por exemplo, a restrição alimentar, no caso da anorexia, mas não à identidade que seu modo de gozo lhe deu. Por isso, hoje assiste-se ao aparente paradoxo de alcoolistas que não bebem, ou até mesmo que nunca beberam muito, frequentando os Alcóolicos Anônimos por terem detectado o comportamento alcoolista em si mesmo, sem uma história de abuso evidente da substância.
Além disso, nem é preciso ter apenas um sintoma, compondo-se uma lista de sintomas constitui-se igualmente uma identidade. E as identidades definem comunidades. Mulheres que amam demais, compulsivos sexuais, bipolares etc. Vivemos, assim, em uma enorme galáxia de comunidades sintomáticas. É o que J.-A. Miller ironiza ao dizer que os Estados Unidos, nosso paradigma para esse tipo de generalização do sintoma, deveriam ser chamados de United Symptoms of America (Miller, 2005, p. 17).
Em outros tempos, quando se supunha haver alguma ordem no mundo, algum sentido natural, por exemplo, o sintoma era desordem, patologia. Hoje, quando a natureza é ilegível, e a verdade fake, o sintoma é instituição.
O sintoma pode, porém, ser tratado de outro modo. Não mais no contexto de uma clínica médica, nem mesmo no de uma clínica ampliada, clínica do sujeito, mas no de uma “Política do sintoma” que é ainda assim, clínica (cf. Vieira, M. A. 2008).[1] É o que indica Lacan em seus últimos Seminários, ao manter o sintoma como referência principal e não mais o sujeito, ou mesmo seu objeto “a”. De fato, um sintoma não é necessariamente relativo a uma estrutura, um discurso mais ou menos estável , como o conceito de sujeito para Lacan, sempre o furo, ou uma hiância, em um discurso (egoico). Ele não precisa ainda, necessariamente ser tomado apenas como o portador de uma mensagem cifrada do sujeito para o ego, como na premissa freudiana do sintoma como formação de compromisso. Não sendo abordado, dessa forma, apenas como obstáculo ou mensagem ele revela outra face, de perturbação essencial intratável, que pode estabelecer o horizonte de outro modo de lida com o real.
O sintoma peneira
O essencial é: que o gozo passe pelo dizer não significa necessariamente que seu sentido seja entendido, decifrado. Como define Lacan em sua “Conferência em Genebra sobre o sintoma”, ele pode ser abordado como um aparato constituído pelo que resta na peneira (é a metáfora que nos propõe) do cruzamento entre gozo e significante, ou de uma vida colhida em uma rede de acontecimentos.
O fato de que uma criança diga “talvez”, “ainda, não”, antes mesmo de ser capaz de construir verdadeiramente uma frase, prova que há algo nela, uma peneira que se atravessa, por onde a água da linguagem chega a deixar algo na passagem, alguns detritos com os quais ela vai brincar, com os quais, necessariamente, ela terá que lidar. É isso que lhe deixa toda essa atividade não refletida – restos aos quais, mais tarde, porque ela é prematura, se agregarão os problemas do que a vai assustar (Lacan, 1975/1998, p. 11).
O sintoma, para Lacan, passa a se localizar menos como o mal que nos atinge do exterior e mais como a marca da presença do Outro em nossas vidas. Investigada até as raízes do ser em algumas análises, evidencia-se como ela nos contitui, mesmo quando se apresenta como incômoda ou traumática. Além disso, essa presença não se apresentará, em análise, como a marca de uma ação ou violência do Outro específica, mas se pulverizará. Buscávamos Uma resposta, Uma origem, Um desejo original e nos deparamos com muitos objetos que constituem um material, primário certamente, grau zero do ser, mas fragmentário, feito de esparsos disparatados e bricolagens precárias.
É o que propõe Jacques-Alain Miller com base no último ensino de Lacan, especialmente em seu Seminário 23: O sinthoma. Ele chama essa concepção de “foraclusão generalizada”[2]. Na verdade, trata-se de uma teoria do sintoma generalizado. Esse sintoma não é mais tomado como um problema. Ele continua assinalando um impossível, o impossível de apagar essa marca do Outro, ou de inventar outra para si, mas não precisa ser tomado como fracasso.
Fazer com
Nessa via, nada de eliminá-lo, mas “identificar-se com ele”, no sentido de poder ser um pouco, de algum modo, como aquilo ali, mas sobretudo: se virar com ele, “fazer com” (Lacan, 1975-1976/2007, p. 17).
Um exemplo. Escolhi este, de Fabián Naparstek, porque, como testemunho de passe, resume um longo percurso de análise em poucas linhas e algumas cenas fundamentais.[3] Para nossos propósitos, retenho apenas três (Naparstek, 2005).
Seu pai costumava ler o obituário dos jornais. Ele lhe pergunta um dia por quê. “Quero saber quem já não toma Coca-Cola” é a resposta.
Seria um chiste, em vez de morto, impedido de gozar dessa bebida estranha e viciante, meio como a vida. O menino, porém, não consegue rir. É preciso levar em conta o contexto, ou, pelo menos, o modo como o menino havia lido até ali o ambiente familiar, especialmente o desejo desse pai. O menino vivia na dicotomia de “um mundo dividido entre cruzes e estrelas de David” (ibid., p. 60), entre católicos e judeus. De um lado, os consumistas ianques, de outro os sérios e mortificados filhos de Abrahão. É justamente essa visão cindida que gera problemas e impede o riso.
Qual é o chiste? Perdendo a graça por traduzir a piada entendo-o assim: viver é beber sofregamente uma coisa sem sentido, como a Coca-Cola. Somos todos consumistas, de um gozo sem sentido e sem valor. O chiste nos deixa na ambiguidade. O pai estava rindo dos ianques mortos, ou rindo por assumir que no final, todos de algum modo são consumistas e os judeus se enganam ao pensar que são os únicos fora disso? As duas coisas. O menino, porém, faz uma escolha baseada na polarização em que vivia. Nega as crenças judias, figura para ele maior de uma mortificação nefasta, e segue na oposição dos ideais de seu povo.
Na “realidade dividida entre dois polos” (ibid.) em que vivia, só podia escolher entre “uma morte judia ou a vida sem o judaísmo” (ibid., p. 61). No entanto, se vê apenas vazio ou gozando de uma vida que não lhe parecia sua. Não havia lugar para a satisfação subterrânea que o chiste permite e que gera o riso.
Só na segunda análise, ele consegue “entender o dito paterno” sobre os obituários e “captar o aspecto de comédia que havia tido o drama de sua vida” (ibid., p. 60), pois tanto judeus quanto católicos bebem Coca-Cola.
Dá para imaginar que, na dicotomia, os excessos orais tenham sido frequentes já que desarticulados das identificações, o que ele chama de uma postura “cínica” (ibid., p. 61). A análise lhe permitiu essa passagem entre os dois polos. Suponho que ele o tenha conseguido após muitas idas e vindas pelos caminhos de uma pulsão que seguia da satisfação oral para a do sacrifício. O importante é que ela só é possível quando o pai não é mais símbolo dos ideais decaídos de um povo, mas passa a representar um gozo a mais, justamente o do riso, de sua disposição para o humor.
Foi preciso não mais crer no pai, ou crer mais ou menos, “escrer” no pai (ibid.), como escreve Fabián, ou ainda reconhecer em si mesmo esse mesmo traço do humor, sempre constante, e perceber o quanto isso, que até então pensava como cinismo derrotista, era um traço de estilo. Vejam o que diz a terceira cena:
O pai continuava lendo cotidianamente os avisos fúnebres. O sujeito se aproximava e lhe perguntava – outra vez – pelo que estava fazendo. O pai respondia que estava vendo quem eram os que já não tomavam Coca-Cola.
Finalmente o sujeito lhe replica que este chiste já lhe era conhecido. Desta vez o pai lhe responde: “é verdade, ou mudo de chiste ou mudo de público” (Naparstek, 2005, p. 62).
Esse chiste fala de um fracasso. Não será possível ter a graça da piada e o público. Mas fala mais, aponta para o fato de que não havia, para o pai, escolha, ou, como se diz: “perco o amigo, mas não perco a piada”.
Foi o que o filho percebeu em si mesmo pela análise, podendo, inclusive dar a esse gozo um destino. Até ali, seu cinismo era um sintoma (do ponto de vista do ideal), mas era também um modo de satisfação impossível de negativar. Um modo de estar na vida, incurável. Ele pôde passar, assim, com ajuda dos chistes do pai, “passar da crença no pai à crença no sintoma” (Laurent, 2007. p. 176). Para isso é preciso entender o sintoma no sentido de um gozo singular que atravessa o cenário fantasmático dicotômico do par sujeito-objeto.
Ele é localizado pelo analisante no pai nessa cena, mas apenas porque já havia se constituído, para ele, filho, em seu estilo e não mais apenas cinismo ou recusa dos ideais familiares. O sinthoma é incurável, mas não necessariamente intratável. De certa maneira, ele continuará para sempre perdendo o amigo sem perder a piada porque não pode fazer de outro jeito. Mas, algumas vezes a piada pode ser menos mortífera. Apenas isso, mas já é um enorme ganho.
Política?
Nós, psicanalistas, andamos divididos. Há os que sonham com a psicanálise pós-psicanalítica, por um lado, e aqueles que se oferecem ao mundo como os campeões do fracasso, tomando o aforismo lacanino da inexistência da relação sexual, como o da fatalidade de que sempre estaremos aquém dos nosso ideias, que sempre estaremos na impotência e na falta e que, portanto, sempre haverá a psicanálise.
Ora, precisamos ir um pouco mais longe do que dizer que somos psicanlistas porque sabemos viver com o fracasso, sob pena de nos pregarmos apenas para convertidos, pois a questão é que estamos às voltas com um Outro que ignora retumbantemente o fracasso, não porque não quer vê-lo, ao modo do recalque, mas porque o transforma em sucesso. O fracasso está fora do Outro de nossos dias.
Lacan, em seus últimos Seminários situa o sintoma como algo não negativo, feito de um gozo que não se representa nunca, nem se encaixa nunca, mas que nem por isso é menos existente. Como vimos, situa uma teoria do final de análise em que a questão é a de como fazer com o fracasso a ponto dele continuar o mesmo, mas perder o sentido. Assim, quando o fracasso passa a servir, estar em prolongamento com o eu e não em oposição a ele passa a distanciar-se da ideia de uma falta ou impotênca continuada. Esse fracassar sempre da mesma maneira, errar sempre mais ou menos do mesmo modo a ponto dele se incorporar ao ser costuma levar o nome de estilo. É gaguejar na própria língua segundo a expressão de Deleuze. Fazer uma nova aliança com o gozo, nos termos de Miller.
Em nossos dias, talvez a singularidade não seja mais um furo localizado em uma estrutura, talvez tenhamos que usar o termo sujeito em um sentido mais ampliado, como uma opacidade irredutível que pode ser buscada em cada modo de gozar pré-definido.
Os sintomas da moda são gozos definidos como egos. Nossos sintomas hoje não são renúncia ao gozo, mas apenas ao vazio de sentido dele. Já os sintomas em análise, ou a abordagem dos sintomas a partir da psicanálise, podem ser a de gozos que se articulam a um espaço de abertura na rede de acontecimentos de uma vida. O fora do sentido hoje, nonsense, órfão da estrutura, precisa de uma montagem para agir como ponto de singularidade, como espaço de um sentido contingente, ainda por vir, em meio a tantos protocolos de sentidos prévios.
Além disso, tal como buscamos em uma análise as montagens que põem essa vida opaca em movimento, podemos, nos mais variados lugares da cidade apostar nas subversões que essa fração singular de gozo pode fazer. Manter o fracasso como estilo permite abrir-se à contingência. Como serão sempre construções, artefatos, e não achados ou elaborações, geram a responsabilidade de sustentar que, dados os materiais disponíveis, aquilo foi a maneira possível de viver na abertura do presente. Esse talvez seja um dos modos atuais de fazer valer a exortação de Lacan: a de que de nosso lugar de sujeito somos sempre responsáveis (Lacan, 1966/1998, p. 869).