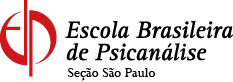INVENÇÕES <> SUBVERSÕES – Eliana Machado Figueiredo
Eliana Machado Figueiredo (EBP/AMP)

Provocada por uma discussão na comissão de boletim Fora da Série, da Jornada Subversões, 2020, sigo na proposta de buscar responder à pergunta: seria a criação sempre da ordem da subversão?
Tolerar o intolerável, o inominável
Nuno Ramos, artista plástico, escritor e compositor brasileiro destaca numa entrevista[1] que a escolha do atual Presidente Jair Bolsonaro “potencializou o traço brasileiro de ser indiferente a mortes e de tolerar o intolerável”. Prossegue ele: “A indiferença pela vida, o Brasil sempre teve. Não é criação bolsonarista. Mas o grau de elaboração que isso tomou nos levou ao plano do inominável. Vivemos uma situação em que o número de mortos é inútil, e isso é desprezado. O grau de mentira que circula, o enlouquecimento discursivo, a falta de empatia… É uma guerra civil com outras armas”.
Perguntado sobre a influência do atual momento e do isolamento social, ele diz que tudo isso já aparecia em sua obra sem que ele percebesse desde os três urubus que colocou na Bienal de São Paulo em 2010. Articula ele: “O grau de elaboração que isso tomou nos levou ao plano do inominável. Lembro de uma observação de Adorno (Theodor W. Adorno), de que depois de Auschwitz não seria mais possível escrever poesia. O que você faz com a crueldade que temos passado? São inversões malucas. Quem defende a democracia é acusado. O Brasil tem um fundo de violência, uma incapacidade de assimilar e respeitar quem está fora do jogo. A única coisa normal é que o Presidente foi eleito. Isso conta e temos que tirá-lo pela democracia. E propõe uma saída dizendo que precisamos voltar a não saber, historicizar, olhar para trás, refundar o tempo e dar alguma continuidade. O bolsonarismo é a grande descontinuidade. Veio para destruir o que puder com uma nuvem de gafanhotos”.
Nuno diz que a arte contemporânea “já tem dado respostas interessantes sobre o tema. Um artista alemão refez uma fonte destruída pelos nazistas, mas de ponta cabeça. A água cai dentro dela. Isso tem muita força. Sem a cena pública questionar, o monumento vai ser só um homem a cavalo”. Hoje há essa discussão em torno das estátuas de personalidades questionáveis. Não é mais verdade o ditado de que se você quer esquecer alguém, deve construir uma estátua. Existe a pergunta de quem é aquela pessoa morta, mas viva na cena pública”.
Paulista subversiva?
Avenida Paulista, inaugurada em 8/12/1891, ali mesmo onde há um acontecimento e um encontro a cada instante, a cada esquina, marco geográfico, financeiro e turístico da cidade de São Paulo. Lá vivia os barões do café! Hoje trabalho de poderosos e frequentada por um público bem variado que diariamente divide seu espaço com cenas que saltam aos nossos olhos! Ali onde tudo acontece na noite ou com o despertar da cidade. Desde 2013 é palco de protestos e lugar onde se iniciaram as passeatas contra o aumento da tarifa do ônibus em 2013; ali há passeatas e manifestações culturais. Palco da direita e da extrema direita desde o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff em agosto de 2016, deixando ali as marcas do que enfrentamos desde então no que chamo de desmantelamento de tudo que foi construído no país até hoje e do primeiro golpe recente que sofreu nossa democracia.
Curiosamente dois dias antes de sua inauguração, em 06/12/1891, em Paris, no exílio, falecia Dom Pedro II, o homem que por 48 anos foi o chefe da Nação. Dom Pedro de Alcântara foi acometido de um resfriado que evoluiu para pneumonia. Pessoas de diferentes posições políticas prestaram homenagem ao último imperador do Brasil.[2]
Uma intervenção na cidade, “a marcha a ré” e a presença do telespectador
Em 05 de agosto, dois meses após a entrevista de Nuno, entre a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) na Avenida Paulista e o Cemitério da Consolação, na Rua da Consolação, ele expõe uma performance, um protesto![3]
Ele e Antonio Araújo, um dos fundadores da ambiciosa companhia de teatro, Teatro da Vertigem, ambos vestidos de branco, botas, máscaras e escudos faciais guiaram 100 motoristas concentrados em dirigir os carros de marcha a ré, por um quilômetro e meio e na lentidão de cinco quilômetros por hora! De dentro dos veículos ecoava uma sinfonia, com sons de respiradores e monitores cardíacos de UTI. No início e no fim do comboio um carro funerário de cortejo fúnebre acompanha o tom. Na chegada ao cemitério da Consolação, o hino nacional foi tocado ao contrário por um trompetista, sobre o pórtico da entrada.
Eles quiseram ali homenagear e mostrar o luto aos quase 100 mil mortos pelo Covid-19, em agosto. Mas também lembrar toda a destruição do governo em todos os setores sociais: arte, educação, cultura, saúde, meio ambiente etc… Segundo Nuno, a ideia era usar “a linguagem bolsonarista às avessas” e mostrar que o país vive “a nacionalidade do pesadelo, com tudo andando de marcha a ré”. Para Antonio Araujo, a performance contribui para “instaurar um certo tipo de afeto solidário num contexto social de apatia e anestesia”.
Subvertendo a lei, onde em uma situação normal é crime dirigir longas distâncias em marcha a ré, em tempos de pandemia, onde a ocupação da cidade e a reunião de pessoas também não é desejável, isso tudo se deu dentro de carros, numa situação controlada e cuidada para que o evento na rua pudesse ir na contramão da imobilização que pode ser provocada pelos tempos de Zoom e outras plataformas de encontro à distância, poderíamos acrescentar.
Entre indignação e curiosidade, a reportagem registrou as reações das pessoas que não entendiam a priori o que estava acontecendo: “caraca, que treta”; “doideira”; “é fila da vacina?”; “curiosidade resignada dos pedestres”; “o segurança de um prédio disse que a procissão era bonita”; “o entregador de comida disse que era bacana o que ele via”.
O que se vê e o que se lê, e o que se pode revelar do que se vê…
Em outubro de 2020, mais de 150 mil mortos… e os números continuam crescendo…
Uma nova forma de pensar as artes cênicas emerge após a Crise da Modernidade no início do século XX, que questionou os valores propostos pelo Ocidente até então. A partir daí a busca é pela transmissão de saberes diante da realidade, pela transformação interna do homem, inserindo o corpo e suas experiências.
Uma outra contribuição desde essa época tem sido colocar a arte cada vez mais perto do espectador, numa tentativa de desestabilizar os sentidos e a percepção do público, através do tensionamento das camadas do real e do ficcional. Bertolt Brecht e Antonin Artaud buscaram romper com a passividade do público pela via do distanciamento crítico ou da participação.
Antoine Marie Joseph Artaud[4], teve grande parte de sua vida marcada por internações em hospitais psiquiátricos. Suas experiências denotam a sua vivência entre crueldade e a reinvenção. De forma subversiva pôde criar algo entre a realidade e a ficção, entre sagrado, lucidez e loucura, despertando-se para uma pesquisa muito mais profunda que relacionava o ser, a carne e a espiritualidade, fazendo-o declarar guerra aos seus órgãos contestando a natureza humana, quando busca contestar o próprio Deus e o seu juízo sobre a existência. Dedica-se à pesquisa de um “corpo sem órgãos”, entendendo que desde sempre somos acostumados a viver nosso corpo isolando suas partes e limitando seu sentir, acreditando que os olhos foram feitos só para ver, os ouvidos só para escutar e se pergunta: por que não subverter a ordem? Por que não falar com o joelho, tatear com a bacia, com o “como um todo”?
Ele cria então o Teatro da Crueldade, que propõe desestabilizar os sentidos do telespectador, com efeito de ambiguidade e incertezas, sem saber o que é realidade e ficção. Eis aí um mecanismo que força o espectador a ler o real em ângulo diferente, ler o cotidiano que passaria despercebido ao público, dar visibilidade, provocando uma saída da anestesia.
Tal como nos provocou Nuno, buscar estratégias cênicas que busquem sensibilizar o espectador a reagir a situações banalizadas no cotidiano, até pelo excesso de informação. Em última instância buscar devolver ao espectador um olhar desanestesiado, uma resposta ao esgotamento?
Temos nessa leitura a intervenção da “A Última Palavra é a Penúltima 2.0”[5] (2014), do grupo paulista Teatro da Vertigem, baseada no texto “O Esgotado”, de Gilles Deleuze. O que estava em jogo era reocupar um espaço esquecido pelo tempo, o acesso subterrâneo da Rua Xavier de Toledo, no centro de São Paulo. A reflexão do já feito, revelando a perspectiva do futuro, as condições sociais, os problemas cotidianos da vida e o esgotamento como resultado do trabalho duro dos habitantes de São Paulo.
Para Deleuze na arte se pode encontrar a potência de viver, a partir da compreensão dos impactos na subjetividade do sujeito na relação com a intensidade dos afetos.
Artaud diria que “no ponto de desgaste a que chegou nossa sensibilidade, certamente precisamos antes de mais nada de um teatro que nos desperte: nervos e coração”.
Com Brecht[6], aprendemos que o público deve aprender a espantar-se com a situação ao invés de se identificar, abandonando a aparência das coisas para vê-las como são. O teatro épico consegue fazer ver sob o “efeito de estranheza”, de forma crítica, que se instala entre o mostrar e o mostrado, entre o significante e o significado. E se isso acontecer, a catarse dá lugar não à emoção, mas ao espanto.
Entre o inominável, o desprezo pelas mortes, o negacionismo, a descontinuidade
Jésus Santiago, em seu texto “O avesso da biopolítica e o vírus[7] nos adverte que é “possível interpretar o quanto a ação corrosiva da pulsão de morte na época da ciência se apresenta sob o modo de impasses quase insolúveis. Antes mesmo de Freud ter fornecido as grandes coordenadas do problema da necessidade “da renúncia da satisfação das fortes pulsões sexuais e destrutivas” para a sobrevivência do laço social, em seu Mal-estar na cultura,[2] Paul Valéry já havia prenunciado que a civilização tem a mesma fragilidade de uma vida: “Nós, civilizações, agora sabemos que somos mortais”.[3]
Santiago caracteriza a atitude do governo Bolsonaro para com o saber da ciência e os semblantes ofertados por ela, com uma posição negacionista que nos leva ao pior e com “efeitos devastadores e catastróficos da pandemia (…)”, sendo que “esse desdém pela ciência é um menosprezo pelo pior, ou pelo caráter mortal da civilização, na medida em que se desconhece que a fatia da população vulnerável no Brasil é muito maior que nos países nos quais prevalecem as democracias liberais, com a tendência ao agravamento dos efeitos econômicos adversos e calamitosos dessa crise”. Conclui dizendo que a desestabilização dos semblantes, “favorece o retorno da face feroz e tirânica da ordem social e política”[8].
Éric Laurent em seu texto orientador[9] diz que “é a partir da inexistência do Outro que garantiria o real da ciência que surge um outro real para o sujeito que vive na linguagem. É esse real da angústia, da esperança, do amor, do ódio, da loucura e da debilidade mental. Todos esses afetos e paixões estarão no encontro marcado da nossa confrontação com o vírus; eles acompanham, como suas sombras, as “provas” científicas”. E cita Jacques-Alain Miller: “A inexistência do Outro não é antinômica ao real, ela lhe é, ao contrário, correlativa. […] É […] o real próprio do inconsciente, ao menos esse do qual, segundo a expressão de Lacan, o inconsciente testemunha, […] o real quando ele se revela na clínica como o impossível de suportar.”
Laurent conclui seu texto alertando-nos sobre a ética da ciência, seus problemas e a ética pessoal: “no nível pessoal, o modo como cada um pode interpretar as medidas de segurança terrivelmente restritivas que lhe são dadas introduz uma variável importante em todo cálculo global. Mas que isso depende muito do comportamento das pessoas e da maneira como vão aplicar essas medidas […]”[10].
Criamos? Reinventamos?
A pandemia, o isolamento social, o distanciamento social, o vírus, que nos assombra como inimigo invisível, desprezível para alguns, e a morte tão próxima para outros. Os vários significantes aos quais cada um de nós se viu confrontado nos deu possibilidades, à distância, de mostrar nossa solidariedade e capacidade de invenção. Para alguns apenas uma paranoia do outro, para outros o real da morte. Para outros a pedra no caminho, a solidão tantas vezes experimentada, mas agora com maior rigor, insistiu.
Termino essa reflexão colocando o título ao final, em vermelho, uma pequena subversão das normas, no momento em que as informações oficiais nos mostram que contamos mais de 150 mil mortos no Brasil: O Brasil de “marcha a ré”, a invenção e a subversão na cidade.