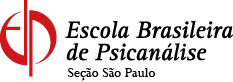O povo e a peste*

 Fernanda Otoni Brisset (EBP/AMP)**
Fernanda Otoni Brisset (EBP/AMP)**
Se não fosse uma raiz de mucunã arrancada aqui e além, ou alguma batata-branca que a seca ensina a comer, teriam ficado todos pelo caminho, nessas estradas de barro ruivo, semeado de pedras, por onde trotavam se arrastando e gemendo .
(Rachel de Queiroz)
Que país é este?
Um país dividido, onde cada lado tem mais de um lado, a metralhar a diferença que se insinua no campo sexual, religioso e político; um país que assiste, sem indignar-se, ao genocídio de pobres, negros e índios de todos os gêneros; um país intolerante, polarizado, brutalizado no dizer e em atos; um país onde a peste se alastra, aparentemente, com o consentimento do seu povo e de suas lideranças. “E daí?” Fala o presidente do Brasil:
“É só uma gripezinha.” “Vida segue normal.” “Esse vírus é igual a uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Não tem que se acovardar com esse vírus na frente.” “Está morrendo gente? Tá.” “E daí? Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.” “A maioria da população brasileira contrai o vírus e nem percebe.” “Eu sabia que um dia ia pegar. Como, infelizmente, eu acho que todos vocês vão pegar um dia.” “Tem medo do quê? Enfrenta como homem, pô!” “Lamento, lamento todas as mortes. Morre gente todo dia de uma série de causas, né? É a vida, é a vida.” (Jair Bolsonaro)
O discurso da banalização da morte, da valorização do trabalho, da servidão, do viril e da meritocracia, encontra ressonância no corpo sensível do povo brasileiro. Raiz exposta!
“Quase nove milhões perderam emprego. Esse efeito colateral é mais grave que o próprio vírus.”, fala Bolsonaro em sua luta para salvar o mercado da peste… já as vidas doentes, improdutivas… é lamentável. Ministros se demitem. A pauta neoliberal comanda a dança das cadeiras. O placar marca cem mil mortos, e o Jair comemora o título do Palmeiras. Em seguida, a Secretaria de Comunicação do Governo comemora os “quase três milhões de vidas salvas ou em recuperação”. “Afinal, pra que chorar os mortos?”, fala sorrindo a atriz, ex-secretária da Cultura. E viva o futebol. Só triunfo!
Brasil – 2º lugar mundial em número de mortos e contaminações pelo coronavírus. Sem ministro da Saúde, um general ocupa a pasta e substitui centenas de técnicos da saúde por militares. O presidente é o garoto-propaganda da cloroquina. Ao sabor dos ventos, as birutas sopram um punhado de medidas e informações incompatíveis. Os recursos destinados ao combate à pandemia são desviados pela rede da corrupção. A pilha de mortos não para de crescer; a popularidade do governo também (subiu a 52%). Nas redes sociais, viraliza: “Nunca na história de um país, houve um grande amor por um presidente como está acontecendo com nosso presidente Bolsonaro.” Esse “grande amor” promete ser eterno enquanto durar o usufruto da “bolsa corona” nessa terra castigada com quase 4 milhões de infectados pelo vírus, mais de cento e vinte mil mortos, uma média de mil por dia durante os últimos três meses.
Gozando dos louros que não plantou, Bolsonaro considera a possibilidade de decretar vida longa ao auxílio emergencial. Há chances de reeleição. Ele acena ao Congresso com uma nova aliança. O Centrão se regozija; a partilha do bolo segue incólume, enquanto 56 pedidos de impeachment se acumulam. E assim, para muitos, a chegada da peste é uma benção, graças ao Messias e seu rebanho. “E daí?”
“Cada povo tem o governo que merece?”
Sem conseguir se organizar como oposição, uma parte da esquerda, ressentida, segue esperneando, brigando entre si e com o povo brasileiro, sem saber fazer com o furo que lhe concerne, entretida que está ainda em dividir o mundo entre nós e eles. Há também os que classificam o brasileiro como apolítico, agarrado a um gozo mortífero, alienado quanto a sua miséria e que segue feliz rumo à sua ruína. Alguns teorizam sobre a necessidade do povo em fazer um pai existir, face a sua vacuidade, nomeando um Capitão dos pobres para adorar e seguir, absorvendo-o como uma dádiva dos céus que, no deserto do real, faz o milagre da precipitação do auxílio emergencial de seiscentos reais. Muitas elucubrações rondam esse povo.
Sigo em outra direção. Minha prática analítica na rede pública acontece junto a pessoas sem renda, sem documentos, sem trabalho, sem família, sem teto, sem lei, sem razão, sem muita coisa. Quando encontram um analista, elas têm o que dizer. Elas pensam, elas falam, elas sabem fazer com os buracos do real num mundo onde o Outro não está nem aí. Diria que portam sem saber, um saber que não é suposto. Um saber a forçar suas escolhas, de forma irrecusável. Um saber desarticulado do Outro e referido ao Um do gozo. Um saber que não se conforma e deforma a informação. Um saber que se sabe sozinho, irredutível ao simbólico. Um saber que ressona no corpo e o conduz. Seguir esse saber tem sido uma bússola. A solução para o impasse da existência de cada um, em situações sociologicamente das mais miseráveis e mais diversas, advém das amarrações que um corpo falante faz dos seus encontros na cena do seu mundo, com as palavras e as coisas a seu dispor, segundo a lógica do seu saber fazer. A emergência do laço social não se faz sem o saber que esse povo carrega como herança.
Trata-se de gente como a gente, demasiadamente humana, simplesmente parlêtre. Se pode parecer que se deixam levar como “gado humano rumo ao matadouro”, o que suspeito é que esse parecer oculta uma estratégia do viver.
Um país compulsivamente desigual, como reza a tradição
A história da desigualdade no Brasil, escrita por Ferreira de Souza, confirma duas situações: a concentração de renda entre os ricos brasileiros “apresenta forte caráter inercial”1 e, apesar das conquistas da Constituição de 1988, uma tolerância inquebrantável mantém os níveis de desigualdade em serena estabilidade. Os intervalos democráticos servem mais “para conter o aumento da nossa desigualdade do que para reduzi-la”2, assim como a aliança dos interesses econômicos e políticos, orquestrada por muitos poucos, “é fiadora da persistência da concentração no topo”3. Desde os estudos de Thomas Piketty, é consenso que a desigualdade despenca das alturas quando os cavaleiros do apocalipse entram em cena. Entretanto, no Brasil, eles parecem “cavalgar na direção contrária e elevar subitamente a desigualdade”4.
No Brasil recente, uma inibição aturdida pesou sob a mão da esquerda quando esta detinha a caneta da agenda distributiva, impedindo-a de estendê-la até o bolo e abocanhar o seu pedaço. Optaram por um “governo de conciliação”: os pobres ficariam menos pobres e os ricos mais ricos.5 Uma política prudente demais, acanhada demais, envergonhada de sua fome, constrangida por desejar ainda mais. Tudo como dantes no jardim de Abrantes – vence a compulsão à submissão, como reza a tradição, tal como J.-A. Miller a expõe ao ler a tese de Freud:
“Sua tese é que um pensamento imposto, um pensamento que somos obrigados a ter, um pensamento do qual não podemos nos desfazer, um pensamento que tem a modalidade do necessário, a do não cessa de, deve ter sido reprimido, deve ter passado pela repressão, quer dizer, deve ter sido introduzido ‘dentro do inconsciente’ e que somente com essa condição pode uma tradição surgir, retornar de seu status de reprimida e, então, ‘constranger as massas em seu feitiço’. (Esta é uma tese clínica que concerne a cada um, um por um, uma tese sobre o Zwang subjetivo, mas que de maneira impactante se estende ao que chega a ser massa, povo.) ‘É preciso que tenha (havido uma) permanência dentro do inconsciente’: eis aqui a lógica de Freud.”6
A fome é uma coisa assim que guarda permanência dentro do inconsciente. Um real impossível de suportar da tradição do Brasil. Quando surge no pensamento, tem a modalidade do necessário. No léxico da maioria das famílias brasileiras, a fome é um dos nomes do trauma. Apenas em 2014 o país saiu do mapa da fome quando o Programa Fome Zero nomeiou esse furo e alavancou um fazer com junto a outras políticas sociais. Se o troumatismo é o guardião de um real do qual não se pode desfazer, nele está a fonte do forçamento de um saber fazer.
As raízes do trauma
Rachel de Queiroz, em seu primeiro romance, O Quinze, que se refere à grande seca de 1915, vivida em sua infância, relata a saga de uma família que, para fugir da seca, partiu em retirada, a pé, de Quixadá a Fortaleza, com a meninada a tiracolo. Arrastavam suas vidas secas, lalangueando nessa terra de ninguém.
“O intestino vazio se enroscava como uma cobra faminta, e em roncos surdos resfolegava furioso: rum, rum, rum… (…) Vagueava à toa, enganando a fome e enganando a lembrança que lhe vinha constante e impertinente, da meninada chorando e gemendo. ‘Tô tum fome! Dá tumê!’ Chico Bento estendeu seu olhar faminto para a lata onde o leite subia, branco e fofo como um capucho… E a mão servil, acostumada à sujeição do trabalho, estendeu-se maquinalmente num pedido… mas a língua ainda orgulhosa endureceu na boca e não articulou a palavra humilhante. A vergonha da atitude nova o cobriu todo; o gesto esboçado se retraiu, passadas nervosas o afastaram. Sentiu a cara ardendo e um engasgo angustioso na garganta. Mas dentro da sua turbação lhe zunia ainda os ouvidos: ‘Mãe, dá tumê!’… E o homenzinho ficou espichando os peitos secos de sua vaca, sem ter a menor ideia daquela miséria que passara tão perto, e fugira, quase correndo.”7
O esforço do enganar a fome, a inibição do gesto, o recuo, a vergonha na cara ardendo, o engasgo e o silêncio. O que guarda seu ato? Um desejo na forma de defesa, diz Lacan8. Se a mão de Chico Bento estendeu-se maquinalmente num pedido, a língua guardou-se inibida. Algo lhe constrange, recua recoberta de vergonha, rende-se ao vazio da fome em si. Na inibição um desejo se oculta em sua turbação. “É a verdade do que esse desejo foi em sua história que o sujeito grita através do seu sintoma”9, como uma compulsão silenciosa se contorce na angústia de um engasgo. Resistência!
Na cultura brasileira, faz parte da tradição e dos bons costumes uma certa prudência e reserva diante da comida. Por exemplo, evita-se esvaziar o prato completamente. Faz bem deixar um resto de comida. Jamais sair com fome de casa, antes é recomendável forrar o estômago. Mostrar-se guloso é obsceno. Comer sempre devagar e sem pressa. Recomendações para não passar vergonha. Tal vergonha recobre e comemora um saber traumatizado que se guarda encarnado. Trauma da língua! Isso fala, transmite e se estende impactante para além de Chico Bento e que se detém, em muitos entre nós, analistas e analisantes, como um zunido que ressoa na pele do povo brasileiro.
Sigo a pluma…
Quem é esse povo brasileiro? Ele tem fome de quê?
Pobres, negros e índios, de todos os gêneros, gente que tem fome. “Você tem fome de quê?”, pergunta os Titãs em sua canção Comida. A falta de leitos, de respiradouros, a peste, a fome, a seca, a guerra e a morte não são um assombro que chega com a pandemia. Está presente no estado de apocalipse em que muitos nasceram. Uma herança com a qual tem que se virar. É “aí que convém lembrar”, diz Lacan, “o inter urinas et faeces nascimur de santo Agostinho. O importante não é tanto nascermos entre a urina e as fezes, pelo menos para nós analistas, mas sim que é entre a urina e as fezes que fazemos amor. Fazemos xixi antes e cocô depois, ou vice e versa.”10 Não é sem poesia a fome do viver. Gemer, calar, enganar a fome não é uma informação, é um vazio soante que só se sabe sozinho. Os que atravessaram o rubicão guardam a morte como uma saída. A vida que segue, só se segue de tropeço em tropeço, pelas veredas desse insabido. Isso é o que se sabe, consigo.
Para Eliane Brum, escritora e jornalista brasileira:
“O que chamamos de povo brasileiro é composto, em sua maioria, por pessoas que só vivem porque teimam. (…) população de corpos escravizados e depois brutalmente explorados. O que se transmite de pai e mãe para filhos e filhas é que a sobrevivência não é garantida, ela é arrancada. A morte é normalizada. A história das famílias mais pobres é uma história em que os filhos mortos são contados junto com os vivos. As mulheres sabem que parte de sua prole pode morrer pelas condições precárias da vida (…) também sabem que morrer por violência é uma probabilidade, especialmente se seu filho for negro. (…) Há periferias do Brasil em que você pode bater aleatoriamente em uma fileira de portas e todos terão uma morte ou mais para contar (…). A tragédia crônica do Brasil é ter um povo (…) colocado na condição de matável e morrível desde a formação do país (…) que vem resistindo há séculos contra todas as formas de extermínio. (…) Essa é uma das faces mais horrendas da desigualdade, mas o horror dessa face nunca a impediu de ser aceita como normal. Nesse sentido, a covid-19 é mais uma forma de morte.”11
Para quem só vive porque teima, a política que interessa é a política do sinthoma, a economia que conta é a economia do gozo, seja onde for. Nós, analistas, temos algo em comum com essa gente, e alguns entre nós se oferta para uma conversa entre dois parceiros. A leitura do sintoma desse país da peste só pode advir do saber que sua gente transmite, um por um. Um saber fazer com o trouma que o constitui pela greta de um tronco de equívocos.
Um corpo falante se vira com as palavras e as coisas que chovem em sua horta ou nela se secam. É aí que o trabalho e seus trambiques, as religiões de todos os santos e as parcerias amorosas das mais diversas participam da originalidade do cenário onde cada um se serve para montagem de sua singularidade sinthomática. Na corda bamba e em procissão, segue em crescimento uma população de trabalhadores cada vez mais evangélica, onde a fala do presidente ressoa como um salmo conhecido. A maioria do povo brasileiro tem se arranjado na vida desse jeito. O elemento novo nesse contexto foi ter 600 reais por mês. Integrar esse auxílio ao seu conjunto ficcional, longe de dar mostras de sua ignorância, diz mais de um saber fazer com os objetos e discursos que alcança.
Um vazio comum!
O Brasil é um país cujas estacas significantes separam as comunidades demarcando os que estão no topo e os de periferia. No centro, um grande vazio. A experiência de um vazio é o que todos temos em comum. Se comungamos do princípio que a exposição é o lugar da política em cada um, o lugar comum é esse vazio donde cada um toma a palavra e realiza o desejo de expressão e de discórdia.
Se esse lugar anda desabitado, como dizem, talvez seja porque a língua ainda se contrai e endurece e a mão recua e não toma. Faz parte da reza da tradição! Contudo, reduzir o povo à metáfora do gado só reverbera a arcaica compulsão dos donos da lavoura a separar nós e eles, cultos e ignorantes, brancos e negros, ricos e pobres, civilizados e índios, patrões e empregados, vivos e mortos, casa grande e senzala. A crença nessa divisão também faz parte da tradição. Na leitura da dialética hegeliana do senhor e do escravo Lacan nos orienta a procurar o saber do lado daquele que sabe fazer com um vazio comum em torno do qual escoa um gozo desigual.
Freud não guardava ilusões quanto a uma política distributiva igualitária. A desigualdade é inata e nos constitui. O que não quer dizer que a transformação cultural dos membros da comunidade não possa advir12, provocando a imiscuição de significantes novos na ficção do existir a fim de volatizar ou pelo menos deslocar os significantes mestres da herança arcaica. O Programa Fome Zero é exemplo de uma jaculatória que surge soprada da goela seca dos troumains13, com consequências de vida no campo social e nas políticas públicas, en corps et encore...
A ampliação das ofertas para conexões culturais e societárias são bem-vindas como material para o saber fazer do parlêtre na partição do gozo como tal. Ler o sintoma de uma época requer seguir o ressoar do saber que segue guardado em cada corpo falante de uma comunidade. Tomar as palavras e as coisas, a partir da fome do desejo, junto a mais alguns outros, faz existir um lugar e o laço para alojar o vazio comum a cada um, espaço de trocas irregulares e ligações singulares em condições de provocar uma “rebelião contra a identificação conformista”14.
Freud em resposta a Einstein, afirma que investir na cultura é trabalhar contra a guerra. A cultura instaura na sociedade “uma dialética, que deixa aberta uma hiância igual àquela no interior da qual situamos a função do desejo”15. O movimento que advém desse vazio comum pode provocar, tal como insiste Lacan, “o remanejamento dos conformismos anteriormente instaurados, ou até sua explosão”16. Um grão que a psicanálise entrega à política, desde Freud, pois a psicanálise do individual é ela mesma uma aplicação da psicanálise social.
A rebelião dos troumains
Uma conclusão me toma de assalto: a revolução que interessa ao parlêtre não será feita pela direita que tem compromisso histórico com a manutenção do status quo distributivo. Tampouco virá do proletariado conduzido pelos intelectuais de esquerda intoxicados no curto-circuito de discursos e ideologias que os afastam dos corpos falantes e das suas soluções sinthomáticas. As ideias não entram em combate, já era tempo de sabermos, só os corpos. Portanto, não há representante do povo. A cadeira da representação seguirá vazia, é lógico. O povo não existe e seu representante idem. E a suposta crença no pai evaporou-se faz tempo: muitos já caem no mundo esclarecidos quanto a sua orfandade. Se não é possível conduzir o povo como uma boiada rumo ao matadouro, tampouco será conduzido ao estado do bem-estar social.
O povo é um conjunto de troumains que teimam em viver! Sua arma é a cultura, a arte, a palavra. Ampliar o convívio entre os desiguais a partir do seu vazio comum faz parte da aposta analítica, pois é no quintal de casa ou no terreiro do vizinho que a língua se solta e toma a palavra junto a uma assembleia em autêntica política. “É o viver contando com a boca seca e os meios à mão para saciá-la. É a invenção da própria vida.”17
O saber dizer que brota desse lugar alavanca a insurreição do desejo que não se conforma e se expõe em ato na comunidade à qual se engendra: “verás que um filho teu não foge à luta”. Política original que, engajada ao sinthoma, se faz todos os dias em cada greta de barro ruivo desse país.
Como transmitir aos governantes a política desse saber fazer que, há séculos, com seu gingado num corpo de poucas palavras, extrai alguma alegria do infinito de sua falta a ser? Essa é uma questão que nos cabe perseguir. Cabe ao analista, onde quer que ele se encontre neste mundo, tomar a política em sua dimensão de emergência e com seu ato perturbar a defesa, na sessão e na cidade, seguindo o saber de sua experiência: a liberdade de expressão é a ferramenta do corpo falante para extrair a munição necessária da sua ex-sistência e seguir armado com seu desejo para o bom combate, junto a mais alguns outros.
Quanto à peste…e daí?
“Todos esses que aí estão
atravancando meu caminho,
eles passarão,
eu passarinho.”18