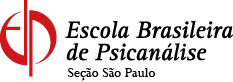Kátia Ribeiro Nadeau - Associada da CLIPP “Minha alma tem o peso da luz. Tem o…
Be right here – Marcus André Vieira

I
Gostei muito, na preparação para esse encontro, de ter descoberto Charlie Brooker, criador da série Black Mirror e roteirista da maior parte dos episódios, incluindo o que acabamos de ver. Ele tem uma coluna no The Guardian com aquele humor inglês que ajuda muito a entender a série. Trago, por exemplo, para essa discussão uma frase dele que resume, a meu ver, o forte da coisa: “Quis escrever sobre o que vai acontecer daqui a dez minutos se nós formos desastrados”. Não é essa a impressão que temos com a série? De algo que está na nossa porta, ou já dentro de casa?
Com relação ao episódio a que assistimos, Be right back, por exemplo, descobri que existe um aplicativo na Apple Store que se chama LUCA, um memorial boot, um robô de memória que já é praticamente o que o episódio propõe como ficção, vocês podem baixar e comprar. É um ajudante, como a Siri, mas pode ser programado para responder seus e-mails como se fosse você, aliás é o que o Google já começou a fazer, mas ele é mais preciso, pode ser configurado para fazer uma pesquisa do seu próprio material e responder seus e-mails. Eles fizeram ainda, exatamente como no episódio, uma versão beta de um robô de um morto, um amigo da dona da startup assim como um do Prince. Estamos realmente a dez minutos da situação da série, em que o marido, praticamente volta da morte, ressuscitado pelos poderes do algoritmo, chegando inclusive a ganhar voz em um segundo tempo e um corpo a seguir.
O grande objetivo de Brooker, com o tema do desastre em dez minutos, segundo ele próprio, era nos mostrar o que a tecnologia produz em nós, no sentido de uma alteração, não apenas do que chamam “subjetividade”, essa coisa vaga que se usa hoje para não dizer “alma”, mais na concretude do corpo. Ele conta a seguinte situação que o levou a imaginar a série: Ele estava no mictório de um restaurante. Nesses lugares é costume colocar uma foto, uma propaganda ou um texto na altura dos olhos enquanto o sujeito está de pé urinando. Nesse restaurante havia um Ipad preso nos azulejos que mudava de página conforme a direção do jato da urina.
É nosso corpo sendo reconfigurado, conformado por um objeto da ciência – passa a ter outra função, meu pênis ou minha urina. É um novo uso de um apêndice do corpo que, a princípio, nada tem a ver com aqueles até aqui considerados naturais, mas não se enganem! Se todo mundo passar a usar desse modo, ele se torna natural. Esse é nosso mundo.
A cena do mictório é bem mais eloquente para encarnar o que já sabemos e dizemos, por exemplo que o celular já faz parte de nosso corpo e que é impossível se separar dele. Brooker usa esse meio para produzir em nós ao mesmo tempo delícia e desconforto. A série toda produz essa sensação de delícia e de desconforto: a delícia do seu marido poder voltar da morte e a estranheza de ele ser e não ser mais exatamente ele mesmo! Muitas das possibilidades abertas pelos objetos da ciência produzem esse efeito, o de uma droga, sempre pharmakon, bálsamo e veneno.
II
Especificamente sobre esse episódio, o que dizer do ponto de vista do psicanalista? Para começar, diria que fico mais interessado em Marta, a esposa e viúva, mais do que na discussão do que seria esse Ash ressuscitado. Toda a dificuldade da personagem na relação com ele me interessa muito! Marta somos nós todos às voltas com esses objetos novos, estranhos, da tecnociência. Eles nos perturbam, reviram do avesso nosso corpo e exigem mil reviravoltas subjetivas. Supondo que Ash já esteja entre nós, o que importa é perguntar que efeitos sua presença teria.
Só que, apesar do meu interesse, é quase impossível evitar a discussão sobre o status do Ash. Então vamos começar por ela para depois podermos nos dedicar à Marta.
Ash, em si, é apenas uma reedição do autômato do século retrasado, e do robô do século passado. É um velho fantasma bem conhecido, que aparece sempre que se trata, hoje, de inteligência artificial – o de uma máquina que é igual a nós ou melhor ainda e que, dessa forma, vai tomar nosso lugar.
Para nos reconfortar, para fugir da estranheza de nossos tempos e nos refugiar em nosso humanismo ainda arraigado, supomos não sei que coisa especial no humano que o torna único e que faltaria ao Ash robô. Assim, tendemos a insistir que ele é falso, que o episódio demonstraria como é impossível copiar a obra de arte que o homem é.
Ora, todo o episódio foi escrito para fazer o efeito contrário. Ele leva tão longe a proximidade dos dois que a gente tem a impressão de que não faz tanta diferença assim se é um robô ou se é uma pessoa, se é uma máquina ou não, a gente chega no limite do desconforto de pensar que talvez fosse melhor se fosse um robô, por que não? Ele é o amante ideal, o marido ideal, sempre à postos, inclusive nunca nega fogo na cama.
A presença dos objetos da ciência em nossas vidas e corpos no nível em que se faz hoje nos impede de ficar no humanismo, na certeza de que o humano não seria fake! O exemplo do ipad mostra que somos todos ciborgues hoje em dia, todos aparelhados com alguma coisa que nos deixa já meio humanos meio máquinas, o que realiza a profecia de Donna Haraway[1] com seu manifesto ciborgue dos anos oitenta. Então Marta somos nós, às voltas com os Ashs em nós, ou vivendo conosco.
III
Sobre a Marta, então, o personagem principal do episódio, qual o efeito do encontro com Ash 2?
Não é o de evitar a dor da perda. Deixemos, também, de lado a discussão que sempre se espera do psicanalista, sobre a perda e o luto. Espera-se que o analista nos ensine como assumir dignamente a perda, como nos livrar dela e partir para outra. No mesmo registro viria a crítica à Marta do tipo: “ela só compra o robô porque não tem coragem de enfrentar a morte do marido!” Ou, em nosso jargão psicanalítico, “ela não assume a castração”! Como se ser adulto fosse superar a morte de um ente amado. Talvez o mais maduro seja saber que é impossível superar completamente uma perda dessas, apenas viver com ela.
Não. A questão do episódio, a meu ver, não é tanto do luto e sim do amor ciborgue. Se estamos em tempos ciborgues, se já somos um pouco ciborgues, o que interessa é saber o que é namorar um, casar com um e por aí vai. Então três perguntas para a Marta que somos todos nós:
- Para que serve a singularidade em tempos ciborgues?
Se somos todos meio fakes e um pouco também de verdade, a pergunta não é tanto o que em nós não podemos tirar ao preço de deixarmos de ser humanos, mas talvez mais importante: até que ponto podemos mudar e ainda assim fazer parte de alguma coisa, sermos desejados? Dito de outro modo, o que Ash 2 precisa ter para ser amado por Marta? Parece que o humor era necessário. Ele tinha humor? Difícil responder. Às vezes parece que sim. O que importa é que Marta só consegue desejá-lo se supõe que era o mesmo do marido. A cada vez que ela dizia: vai embora daqui! Ele dava uma sacada de humor e então ela se derretia. Como vocês vêem, a questão da singularidade se desloca um pouco, tem menos valor em si e mais um relacional.
- O amor por uma máquina pode ser verdadeiro, real?
Parece que sim. Isso é mais polêmico! Quando gostamos de alguém, gostamos pelo que esse alguém tem de diferente ou pelo que ele tem de igual? Pelo que ele tem de previsível ou imprevisível? Em um momento ela diz: “O Ash vivo, teria me batido!”, “Mas ele já bateu?” Pergunta o robô. Não! Por que então você acha que ele bateria? Ele não entende. A gente entende, ela precisa que ele, o robô, a surpreenda! Por outro lado, o Ash 2 tinha algo que o 1 não tinha: atenção, carinho, submissão e isso encanta a Marta no início. Ela não poderia ficar apaixonada pelas qualidades do Ash2? No mesmo registro: um cyborgue pode ser pai? Porque parece que ele acabou servindo como pai mais ou menos protético para a filha do Ash. Já foi um tema explorado nos filmes do exterminador do futuro e tudo leva a crer que se no amor já dá, imagina na paternidade, porque se alguma coisa é adotada é um pai.
- O gozo com o ciborgue, é o mesmo ou é diferente?
Não o amor, mas o gozo. Neste debate entram todas as situações envolvendo as bonecas japonesas, por exemplo. Alguns já querem se casar com as suas. Pode-se ter tesão por um objeto inanimado, isso sabemos desde que os fetichistas estão no mundo, mas e por um robô? Ele diz que aprendeu a transar fazendo uma varredura em filmes pornográficos, uma coisa maquinal, e funciona! É só porque ela gostaria de estar com o marido? Ou é porque ela gosta desse meio homem meio máquina que ela pode moldar? Até que ponto o amor e o desejo não precisam mais de rotina do que de invenção? O autor nos leva até esse limite.
Para concluir, suponho que sim, podemos nos apaixonar por quase qualquer coisa. Marie-Helène Brousse, a respeito desse episódio me soprou essa: De qualquer maneira, não importa se ele é um robô ou não, se ela se apaixonasse por ele, se perguntaria: será que ele gostou do que eu fiz? O que será que ele achou de mim? Será que ele me achou bonita hoje? Para nós, analistas, o que importa são essas questões, o enigma do desejo do Outro. Mesmo sabendo que é um robô, ela ia querer ser interessante para ele, pois é isso que fazemos com as pessoas com que temos uma relação, nos perguntamos sobre o desejo do Outro porque nosso desejo é o desejo do Outro. Vale para os animais de estimação que adotamos também. Remeto vocês ao conto de J. Cazote “O diabo apaixonado[2]” que encarna isso de forma admirável. Então talvez nós nos apaixonaríamos pela máquina, mesmo sabendo que é uma máquina, mas jogando, projetando nela nossas inseguranças e também o amor, nossas dúvidas e com isso continuamos a ser candidatos à psicanálise.