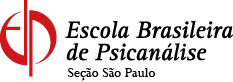Subversão criativa
Daniela de Camargo Barros Affonso (EBP/AMP)

Sempre imaginei a cena seguinte como um momento solene. Freud, convidado a ir aos Estados Unidos pelo psicólogo norte-americano Stanley Hall, para falar na Universidade Clark, em Worcester, Massachussets, em 1909, orgulhoso da expansão de suas ideias, diz aos discípulos Carl Jung e Sandor Ferenczi, que o acompanhavam na viagem de navio e com os quais conversava sobre a importância dessas conferências para o futuro da psicanálise: “eles não sabem que nós estamos levando a peste”. Ao idealizar esse momento, eu estava tomada pelos ideais freudianos com respeito à psicanálise, a qual traria uma resposta aos imperativos da cultura, provocando subversões.
Sabemos que a peste não veio, mas a psicanálise se mantém na civilização. Somos testemunhas de que persiste, mas que usos se faz dela? Desde Freud, por quais veredas seguiu, que traços tem deixado na cultura? Ainda podemos farejar algo de sua “virulência”?
“Virulência”, significante mais do que imiscuído em nossas vidas marcadas por uma pandemia, cuja violência e imprevisibilidade são marcas do real. A catástrofe sanitária, além de escancarar a inexorabilidade da morte, explicitou algo que, se não olharmos com atenção, poderia parecer somente indiferença, espécie de desafecção social diante da morte e da destruição. Mas não para aí: sobrevém um gozo funesto, quase júbilo obsceno diante da morte e de tudo que potencialmente extermine valores civilizatórios.
Impossível não lembrar Freud quando, em O mal-estar na civilização, adverte: “A questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu desenvolvimento cultural conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e autodestruição”[1]. Para Freud, o progresso traria um resto, do qual a agressividade seria efeito. Vaticinou que nosso tempo traria avanços, possibilitando ao homem tornar-se um “deus protético”, mas que não o tornariam necessariamente mais feliz. Uma aporia se revela: como a cultura seria capaz de dominar as perturbações causadas pela agressividade inerente ao humano, se ela mesma é produtora de agressividade?
Um real, fruto da pandemia, um gozo mortífero, por ele escancarado: a combinação explosiva para perturbações de toda ordem, angústia generalizada, perplexidade. O real, diz Lacan, “não dá, forçosamente, prazer”, e acrescenta: “o gozo é do real”[2]. Lembremos que Freud, em “Além do princípio do prazer”, afirma que a busca do prazer é submetida à barreira do recalque e condutas que buscam satisfazer prazeres recalcados podem gerar profundo desprazer para a consciência[3].
Em “Subversão do sujeito e dialética do desejo”, Lacan diz: “Mas não é a Lei em si que barra o acesso do sujeito ao gozo; ela apenas faz de uma barreira quase natural um sujeito barrado. Pois é o prazer que introduz no gozo seus limites, o prazer como ligação da vida, incoerente, até que uma outra proibição, esta incontestável, se eleve da regulação descoberta por Freud como processo primário e pertinente lei do prazer[4]”.
Para Lacan, no Seminário 7 – e talvez haja aí uma articulação com o parágrafo extraído da “Subversão…” –, o próprio simbólico, representado pela lei moral, se coloca como uma barreira para esse gozo que ele exclui. A outra barreira é a do imaginário, que Lacan formula sob a forma do belo, que tem a função de ser a última defesa a das Ding, descrita a partir do exemplo de Antígona.
Penso na função da arte durante a pandemia, em especial o efeito da música, como propiciadora deste prazer do belo, para fazer barreira ao real excruciante que se impôs. A série “Ô de casas”, publicada pela cantora Mônica Salmaso, por exemplo, instaurou um momento de delicadeza, algum alento. A cantora faz vídeos com outros músicos produzindo, ao mesmo tempo, melodia e encontros. Um ato político.
Trata-se da arte promovendo subversões em corpos confinados, corpos imbricados entre si, corpos cuja extimidade explicita-se quando a ameaça de o corpo próprio ser veículo de contágio ao corpo do outro é permanente. A música ressoa nos corpos, experiência ao mesmo tempo pulsional e promotora de anteparo ao gozo opaco e mortal, produtora, talvez seja possível concluir, do prazer aqui evocado.
Podemos dizer que há arte na psicanálise? Qual seria sua arte? A arte da psicanálise é a arte de fazer nada. “Impõe-se dizer”, diz Miller em Donc, “que o que se chama um analista seria um sujeito a quem não angustia seu fazer nada. (…) conservou-se uma forma contemporânea do vagabundo. É o psicanalista. Há de se reconhecer que escutar sem fazer nada é a base da posição, o resultado da formação”[5]. O nada da psicanálise é aquele que se contrapõe ao excesso da “sociedade da abundância”. Diz respeito ao tratamento daquilo que é rejeitado, o lixo, o dejeto, o resto. A psicanálise, portanto, subverte ao descompletar a lógica do mercado em que se ganha por algo que se oferece ao consumo, um produto, um objeto. O psicanalista ganha para fazer nada.
O nada, que cabe ao analista fazer, significa passar ao largo das exigências do capitalismo, não sucumbir às suas asceses do desempenho que mascaram a divisão do sujeito, obscurecendo a singularidade. O “fazer nada” é recolher os dejetos e neles localizar restos fecundos. Em O lugar e o laço, Miller, retomando Lacan, coloca o psicanalista como “operador da experiência”, destacando que ele faz parte do teclado que tecla, mas sempre falta algo em seu teclado. Isto permite ao analisando bascular em direção a esta falta de estrutura do analista. “O resultado”, conclui, “é esta espécie de lugar fundamental, ressaltado por Lacan, que se chama despejo (“lixão”). Nisso, o analista é um lugar – como se diz, ‘o lugar’ – e nesse lugar se estabelece um laço”[6].
Lacan, que, segundo Miller, amava a palavra subversão, começou por subverter a obra freudiana. “O caráter próprio da criação de Lacan na psicanálise tem algo de subversivo”, diz. O desejo de Lacan tem a ver com a subversão criativa da autoridade. “Freud lhe era familiar, sua familiaridade de leitor foi, precisamente, o que lhe permitiu a subversão criativa da obra freudiana”[7], resume Miller.
O fazer nada da psicanálise diz respeito, portanto, a uma subversão criativa. Não se trata de uma prática contestatória do discurso da atualidade, de uma denúncia aos seus significantes mestres, mas, como aponta Bassols, de saber escutar os efeitos de subversão no sujeito contra esses significantes mestres, que se mantêm reprimidos, sob a barra, e saber dirigir-se a eles para lhes dar sua singularidade, contrariamente ao universal que representam[8].
Lacan interpretou Freud ao dizer, em A coisa freudiana, que a frase “eles não sabem que nós estamos levando a peste”, foi um chiste. Seria de se esperar que ao analista coubesse levar o tratamento, mas o Witz de Freud consistiu em dizer que a psicanálise estaria levando a doença. A interpretação de Lacan indica que foram, de fato, os Estados Unidos que trouxeram a peste à psicanálise. “Freud, que de um certo modo pensava vencer a potência da grande nação com esse Witz, foi preso na armadilha de sua própria audácia”[9], conclui Miller.