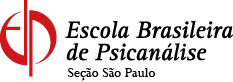Kátia Ribeiro Nadeau - Associada da CLIPP “Minha alma tem o peso da luz. Tem o…
Do desejo que resta profanar

Por Felipe Bier Nogueira
Os temas propostos pelas Jornadas 2018 da EBP, Seção São Paulo, são ao mesmo tempo uma provocação e também um diagnóstico sobre o que é o contemporâneo e como a psicanálise se propõe a encará-lo. Algo deste diagnóstico passa pelo que é explícito no eixo das jornadas: o que é laço contemporâneo em tempos de hiper-conexão? A saber, haveria uma outra margem às infinitas possibilidades de vínculos, construções, identidades que nossos tempos promovem? Em linha com o famoso dito de Lacan, a resposta parece ser positiva, pois a não-existência da relação sexual se impõe como marcador mais notório do vazio em torno do qual as angústias contemporâneas circundam. A hipótese forte do pensamento psicanalítico, portanto, se posiciona à outra margem do problema quando se aferra ao que há de desconexão no mercado de links contemporâneos. Vemos assim o problema a partir do laço que foi desfeito, mais comumente traduzido como declínio do Nome-do-pai. Todavia seria possível avançarmos para além desta segunda margem – para além do que está solto e do que não existe – em direção ao que se afirma como esteira dos afetos contemporâneos, que talvez não esteja nem do lado do Pai, nem do lado do vazio? Nesta terceira margem, o que podemos ver daquilo que é re-ligado, reativado de um dispositivo normativo, e que daria lastro à experiência contemporânea após a falência do mito familiar?
Já em 1921, Walter Benjamin ensaiaria uma resposta no provocativo texto intitulado “O capitalismo como religião”. O escrito do autor faz parte de um largo legado sobre a relação da política com seus pontos de exceção: o próprio nazismo, que vitimou o autor, enxergado desde então como expressão máxima de um estado de exceção. Pois bem, “O capitalismo como religião” antecede o nazismo e, ainda mais surpreendentemente, também é anterior ao hiper-capitalismo que vivemos hoje. Mas, já na década de 1920, Benjamin atentava ao mal-estar que se transformaria na norma em nossos tempos. Produzido na mesma década em Freud operou sua virada em direção ao tema, Benjamin ancora-se neste mal-estar e reflete sobre os rumos desta civilização que, ao invés de apontar para um futuro hiper-moderno, prometido pelas utopias burguesas, parece dar sobrevida ao arcaísmo da religião na manutenção de seu mecanismo central – a sacralização – que agora incide na forma-mercadoria. Os sujeitos que se imaginavam libertos pelo capital veem-se sob o império de um deus sem misericórdia, que exige seu culto 24 horas por dia, 7 dias por semana, seja via trabalho, seja via consumo, para a geração de objetos cujo usufruto, Benjamin argumenta, escapa à lógica do desejo.
Daí a importância de o filósofo Giorgio Agamben retomar a questão no texto “Elogio da profanação”, recolocando-a perante oitenta anos de reflexões sobre nosso mal-estar. Profanar, afirma o autor, desde a jurisprudência romana, está em oposição ao sagrado, à religio, que em sua raiz etimológica – religare – carrega a ideia de um tipo específico de ligação. Profanar, portanto, atentaria menos contra a transcendência e mais contra o que há, na religião, como operação fundamental, que é: retirar algo da esfera humana e posicionar esta coisa além dos limites de seu usufruto. A provocação de comparar o capitalismo com uma religião estaria portanto em fase com o entendimento mais preciso de nosso modo de produção, no qual mercadorias são produzidas não para o uso, mas para sua circulação como portadoras de valor. O capitalismo como religião não tem transcendência – portanto não tem um deus -, mas se apoia sobre o mecanismo mais profundamente vinculado à religião: a subtração das formas de usar do que é humano. Aqui tocamos numa terceira margem, que corre abaixo da queda do Pai e sustenta o contemporâneo.
Profanar seria um ato de desejo, na medida em que reclama um objeto subtraído. Quando Agamben afirma que o dispositivo moderno que mais se apresenta como improfanável talvez seja a pornografia, algo disso ressoa no campo da psicanálise e torna o argumento mais claro: o autor aponta para a contradição entre infinita oferta de produtos, identidades e práticas, e um apagamento do sujeito e declínio do desejo. No argumento, o erotismo tem papel central: uma mudança estrutural é sentida na própria pornografia enquanto forma. A transição é patente se comparamos a fotografia erótica de finais do século XIX, em que as modelos agem como se “a objetiva as tivesse surpreendido […] na intimidade do seu boudoir” (AGAMBEN, 2007, p.77) à situação contemporânea, quando as pornstars oferecem seu corpo como telas em branco. Nestas telas é difícil distinguir do que se goza: o pornográfico contemporâneo faz gozar por revelar algo recalcado, ou por colocar-se como corpo-mercadoria, aberto à inscrição de qualquer gozo?
A questão se liga à ideia de semblante em Lacan, e mesmo esta variação na pornografia acompanha a oscilação do conceito em sua obra: primeiro, algo do jogo de mascarada do feminino – e portanto ligado aos trâmites do desejo calçado no simbolismo -; depois, aquilo que vem à tona a partir do seminário De um discurso que não fosse semblante, no qual o conceito de verdade já não se opõe ao semblante. Este movimento em sua obra, sabemos, acompanha o declínio da hegemonia do simbólico na clínica; mas, em face dos comentários de Agamben, faz pensar: o mal-estar não teria causa no fato de que, como as pornstars, o contemporâneo oferece uma experiência que não esconde nada, e portanto torna impossível o desejo?
Ao colocar a pornografia e o corpo feminino em discussão, Agamben tem em mente o que da Lei cai com a nova religião capitalista neste trânsito de um semblante a outro: no fundo, trata-se de afirmar que hoje é impossível o Nome-do-pai agir em uma sociedade em que o semblante nada esconde, apenas revela. Ou seja, coloca-se em questão o estatuto central da castração como operador do inconsciente nos tempos em que qualquer tipo de encontro está a um clique de distância. Em termos claros, falamos da castração e de sua capacidade de nortear a fantasia a partir de uma subtração do gozo. Os tempos de hiper-exposição e hiper-consumo afirmam o corpo como mercadoria, e portanto o mercado aberto de possibilidades no qual um corpo que não se põe ao uso, mas é plataforma performática dedicada a um Outro que não existe. A questão que emerge é: não seria a própria noção de inconsciente que vacila e que nos impele a cogitar um inconsciente real?
A transição de uma noção de semblante a outra – da mascarada para a esteira do gozo – mostra-se assim não só um movimento teórico, mas também um acompanhamento do sintoma contemporâneo. Neste sentido, o che vuoi clássico do neurótico também se transforma em che fare, o que fazer ante o oceano de objetos a que não são mais causa de desejo? A queda do Nome-do-pai, portanto, revela uma forma de esposamento do real, fazendo ressoar o que em 1921 apontava Benjamin, “Deus não está morto, mas foi incorporado ao destino do homem” (AGAMBEN, 2007, p.70): a saber, o que o Pai da horda escondia por trás da castração – o gozo – agora está a céu aberto.
Daí, talvez, a provocação de Lacan: a psicanálise funciona? Com Miller, devemos entender a questão envolvendo uma nova posição do inconsciente no contemporâneo: um inconsciente que, sob análise, não mais descobre uma verdade, mas sim um gozo[1]. Aqui também fazem sentido as mudanças nos sintomas: não mais a velha angústia, mas processos de contenção e marcação deste gozo em um corpo que mal e mal pertence ao sujeito ou revela algo de seu ser. Deste ângulo, o corpo da pornstar e o corpo do cutting adolescente são quase dois lados da mesma moeda.
Diante da rotação que sofre o conceito de semblante, é curioso voltar a um dos capítulos essenciais de Lacan sobre o problema do falso: no “Bezerro de Ouro” do Seminário 5, Lacan se utiliza da passagem bíblica para afirmar a necessidade de se encarar o falo como significante para além de seu componente imaginário. O mito edipiano, naquele momento, era sustentado pela capacidade de profanar o ídolo paterno e assim fundar o desejo. Assim, se podemos falar em decadência, que seja a do sentido e, quem sabe, do próprio desejo em benefício de gramáticas do gozo. O falo, por sua vez, parece ter dado uma volta em seu eixo e, em plenos tempos hiper-contemporâneos, voltado à sua posição de ídolo – como o bezerro de ouro bíblico -, afirmando performaticamente seu poder extraordinário de capturar corpos, tal qual o Pai da horda primitiva. Seria nesta precária captura de corpos que se constituiríam os frágeis laços do moderno? Em alguma medida, as psicologias comportamentais, as teorias identitárias – como a queer e/ou o feminismo -, ao ancorarem-se sobre o direito por uma pluralidade de gozos, não estariam assumindo que o ídolo fálico é realidade, que a premissa de que o cerco de mercantilização é inevitável e que, neste horizonte fechado, é melhor que encontremos os corpos que mais nos apetecem?
O diagnóstico de Benjamin e Agamben passa pela grave constatação de que há algo de radicalmente diferente no sistema capitalista: ao envolver trabalho e consumo num ciclo infernal, o capital sequestra o desejo. A pergunta que resta para a psicanálise é: como denunciar o culto ao bezerro de ouro sem o recurso nostálgico à figura do Pai simbólico? Tanto Lacan quanto, posteriormente, Agamben, apontam para um uso específico do sintoma contemporâneo como solução: seria interessante pensar, com ambos, o sinthoma como a maneira com que Joyce profanou o laço provido pelo Nome-do-pai. Ao invés de refundar miticamente o desejo, a psicanálise talvez precise afirmar formas de desejar que não passem pelo Nome-do-pai e tampouco pela mercadoria: ou seja, profanar seria extrair algo – tomar de assalto – da tela branca do semblante contemporâneo.
 Paola Salinas (EBP/AMP)
Paola Salinas (EBP/AMP)