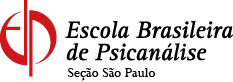Bianca Dias[*] Diante das imagens de horror que nos são arremessadas cotidianamente desde o início…
PERGUNTAS PARA OS TEMPOS DO VÍRUS – O QUE PODEMOS EXTRAIR DE “REFLEXÕES PARA OS TEMPOS DE GUERRA E MORTE”, DE FREUD

Fabiola Ramon – EBP/AMP
Aventuro-me, sob o impacto da guerra, a lembrar-lhe duas teses formuladas pela psicanálise e que, sem dúvida, contribuíram para sua impopularidade.
A psicanálise inferiu dos sonhos e das parapraxias das pessoas saudáveis, bem como dos sintomas dos neuróticos, que os impulsos primitivos, selvagens e maus da humanidade não desaparecem em qualquer de seus membros individuais, mas persistem, embora num estado reprimido, no inconsciente e aguardam as oportunidades para se tornarem ativos mais uma vez. Ela nos ensinou, ainda, que nosso intelecto é algo débil e dependente, um joguete e um instrumento de nossos instintos e afetos, e que todos nós somos compelidos a nos comportar inteligente ou estupidamente, de acordo com as ordens de nossas atitudes [emocionais] e resistências internas[1].
Esse tempo de compreender sobre o impacto do coronavírus, experimentado por nossa comunidade analítica, nos leva até alguns textos de Freud. Um deles é “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (1915), composto por dois ensaios: “A desilusão da guerra” e “ Nossa atitude para com a morte”, escritos seis meses após o início da primeira guerra mundial (1914-1918), certamente também em um tempo de compreensão da ruptura ocasionada pelo acontecimento mais brutal e mortífero vivido pela civilização ocidental desde o início da revolução industrial até aquele momento.
Nesses ensaios, Freud faz uma leitura inicial atenta dos impactos da guerra e da presença ostensiva da morte advinda disso. Apesar de mostrar-se impactado pela devastação de tal acontecimento, Freud se apresenta extremamente implicado em extrair consequências para a psicanálise. Sabemos a importância dessas consequências para suas formulações psicanalíticas, que seguiram sendo extraídas ao longo de muitos anos, uma delas é o conceito de pulsão de morte.
No primeiro ensaio, Freud aborda sobre a civilização e as pulsões. Naquela mesma época ele estava às voltas com seu trabalho primoroso sobre as pulsões, “As pulsões e seus destinos” (1915).
O segundo ensaio localiza a pergunta que Freud está a fazer sobre o lugar da morte para o ser falante e a forma como essa questão se reordena em uma situação de guerra. Trata-se da morte em larga escala, sendo produzida pela guerra. A guerra traz uma dimensão da morte como algo furtuito, presença constante, o que se opõe à ideia civilizatória. A assunção da morte na guerra faz Freud se perguntar sobre o lugar desta no inconsciente e no desejo humano, que segundo ele, é um desejo de assassinato.
Nosso inconsciente é tão inacessível à ideia de nossa própria morte, tão inclinado ao assassinato em relação a estranhos, tão dividido (isto é, ambivalente) para com aqueles que amamos, como era o homem primevo. Contudo, como nos distanciamos desse estado primevo em nossa atitude convencional e cultural para com a morte![2]
Freud destaca que a guerra traz à luz a não-relação, no caso a não possibilidade de relações entre nações ditas civilizadas, fazendo irromper o ódio e o asco entre elas. O mal, que habita cada ser falante, é encarnado no Estado, nesse Outro que “não pode abster-se de praticar o mal, de uma vez que isso o colocaria em desvantagem” [3]. Ele nos mostra que o impacto da baixa moralidade revelada pelo Estado e a brutalidade dos indivíduos que, legitimados pelo Estado, agem na contramão da civilidade, despertam a desilusão. Freud escancara que a ideia de que a civilização “pacifica” a pulsão é furada, é uma ilusão.
Freud articula ilusão e negação da morte. Quando a morte aparece sem véu, a desilusão aparece também, uma desilusão frente aos semblantes que sustentavam a ideia de progresso e desenvolvimento da civilização, que esteavam a ideia de Estado civilizado, calcados na ciência, na moral e na razão.
Um ponto importante que podemos extrair desse texto é que a guerra coloca em jogo o campo do Outro, em sua radicalidade, expondo a fragilidade dos semblantes que sustentam o lugar do Outro na civilização.
Podemos resumir a questão que o texto traz a partir de uma frase de Éric Laurent em “A sociedade do sintoma”. Freud identifica que o que está em jogo naquele momento é “o sentimento de inutilidade da civilização em face desse suicídio coletivo europeu”[4].
Se havia ilusão, era porque o Outro se mostrava bem consistido e Freud assinalava algo da inconsistência do Outro, exposta pela guerra.
Ele apontou a fragilidade dos semblantes e a guerra como uma maquinaria de morte produzida pela própria civilização, destacando que os sujeitos estão concernidos nisso. Se estão concernidos, é porque a dimensão do desejo estava em jogo.
Em uma guerra, o inimigo, este Outro encarnado e, ao mesmo tempo, reflexo do Eu, tem uma inscrição, encarna uma alteridade e uma identidade. Esse Outro deseja, e, se ele deseja, possibilita a assunção da angustia e a colocação do sintoma. A guerra deu uma face para a morte. E Freud seguiu perseguindo isso.
Nesse sentido, o que vivemos com o coronavírus não é exatamente uma guerra, mas uma outra experiência. Apesar de chamarmos o vírus de inimigo, ele não se coloca como alteridade, não é o reflexo de nós mesmo, não deseja, apesar de fazermos algumas tentativas, um tanto quanto complicadas, de dar um corpo e uma inscrição simbólica a isso que não deseja. A morte nos invade vindo por meio de um vírus, que toma o nosso corpo, pois somos seu hospedeiro. Qual é a cara da morte que o vírus faz aparecer? Como a marca da morte em tempos de pandemia nos afeta hoje?
Ante a esse vírus que nada deseja e que apenas faz uso do nosso corpo, há possibilidade do sujeito se implicar nisso de alguma forma?
Lembrou-me do episódio Metalhead, da série distópica inglesa “Black Mirror”, que um cão-robô amoral persegue uma sobrevivente solitária. Parece não haver nenhuma saída, nada a fazer frente ao robô. Metalhead é programado para caçar e matar. De forma surpresiva, a sobrevivente consegue livrar-se do primeiro robô, mas assim que o faz, uma série deles, tal qual vírus, aparece para exterminá-la. Estavam lá desde o início, programados para isso. Metalhead é o encontro certo com a morte.
Em tempos do Outro que não existe, do Outro desconsistido, não é a desilusão o sentimento que compartilhamos. Do que se trata, então? Apatia? Pânico? Depressão? Indiferença? Impotência?
O que a presença fortuita da morte de hoje nos traz de perguntas e como essas perguntas poderão incidir sobre a psicanálise?
Quais saídas a civilização encontrará para se haver com seu mal atual? Quais saídas estamos buscando para não ficarmos, tal como no episódio de Black Mirror, assujeitados frente a isso que nada deseja, mas que porta em si o signo da morte? Por quais vias buscaremos saídas? Faremos disso sintoma?
Se seguirmos com Freud e Lacan, o melhor a fazer é não paralisarmos frente a esse Metalhead, mas acompanharmos esse tempo fazendo perguntas sem pressa para encontrar respostas.
 Paola Salinas (EBP/AMP)
Paola Salinas (EBP/AMP)