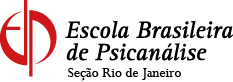por Christiane alberti "- Fora de É a noção de “fora de”, contida na definição…
O psicanalista e as paixões – o gosto do riso e a blasfêmia
Nos textos reunidos sob a rubrica Je suis Charlie, JA Miller responde aos acontecimentos de 2015 em Paris, quando houve o massacre da redação do jornal Charlie Hebdo, num ataque terrorista em resposta a charges publicadas com a figura de Maomé.
Gostaria de extrair nesse comentário alguns aspectos que me pareceram centrais nas observações de Miller. O primeiro deles diz respeito ao ressurgimento do valor da blasfêmia em contraponto à tradição iluminista dos poderes da razão, tão caros à sociedade francesa. Num mundo em que a religião retoma seu reinado, o reinado do sentido, capturando o desejo exatamente dos segregados de uma França branca, este choque se deu exatamente na trincheira “iluminista” do humor. Ao denominá-la como iluminista, estou privilegiando o lugar relevante, proeminente, que é dado à razão e aos princípios que daí derivam e cujas bandeiras principais se escrevem sob a égide dos universalismos extraídos da razão.
Ultraje a honra
Se considerarmos que a blasfêmia se constitui exatamente neste ponto em que se golpeia o sagrado do Outro, onde o fundamento de uma crença é ultrajado, insultado, atingido, no ponto em que se sustenta, podemos apreender que desperte a ira, a cólera e, mais persistentemente, o ódio.
O que parece ter surpreendido o mundo ocidental, a partir da França, não deve ter sido exatamente o massacre, a carnificina dos corpos, mas principalmente que essa fúria, que não excluiu o planejamento minucioso do ato, tenha se dirigido a um jornal, a um veículo primordialmente de discurso, de imagens e palavras, um jornal, aliás, sem maior projeção, decadente, herdeiro de combates de outro momento. Mais propriamente das trincheiras de 68. Eu, por exemplo, que pertenço a uma geração pós-68, do Rio de Janeiro, mas que sofreu diretamente essa influência e que cultuava o riso, o humor, que tinha Wolinski como uma espécie de príncipe dos cartunistas, um dos que levava mais longe a iconoclastia iluminista, para além mesmo do politicamente correto, onde o direito a rir de tudo não encontrava quase barreira, posso verificar que isso mudou muito. Como disse Laerte, cartunista brasileiro e colaborador eventual do Charlie Hebdo, o humor encontrou limites éticos, de forma mais rápida que as demais artes.
Voltando às crônicas de Miller, ele nos faz notar que os franceses reagiram a esse acontecimento e aos que se seguiram, aos ataques na mercearia kosher, com indignação. Ao golpe de cólera, ao instante do ato de terrorismo, os franceses reagiram com o afeto da indignação, que supõe primordialmente, a possibilidade de identificação com o golpe sofrido pelo próximo, pelo semelhante, por quem se compartilha o sentimento de humanidade, a fatia ultrajada a quem se reivindica dignidade. A indignação que perdura por mais de um instante, um afeto mais duradouro. Je suis Charlie, era esta a palavra-de-ordem a “comandar”, ao menos, a “juntar” a multidão.
Ele também nos faz notar, com a força de sua ironia, o súbito apaixonamento dos franceses pela polícia. Nunca se clamou tanto pela ordem, quanto naquele momento em que um inimigo interno podia ser apontado, embora não se saiba bem onde. Um inimigo interno com seu gozo estranho, feito de sacrifícios e mártires e um deus obscuro aos ocidentais. Ondas de solidariedade se desencadearam, a partir desse sentimento de dignidade ferida e, assim, restituída, recomposta, e que a indignação arrebanhou. O que se revela aí, segundo Miller, não é um louvor às luzes, às liberdades da Razão, mas um desejo de manter a ordem, um desejo de submissão, de servidão voluntária, diante do temor ao gozo sombrio desse Outro que espreita em toda parte. Choque de gozos.
No entanto, este mundo também foi confrontado por esse outro mundo que se indigna quando o coração de sua fé, o sentido de sua fé, é atingido, quando se sente insultado. Um insulto é uma espécie de palavra-imagem que toca o impossível de suportar, a palavra mais próxima de uma bofetada. Um confronto de dignidades, poderíamos supor, que acusa impasses dessas civilizações que se chocam justamente porque se cruzam, se avizinham de um modo que possa beirar o intolerável. Sob o confronto de dignidades, o choque de gozos.
Do lado dos humoristas, uma outra dignidade da qual, seja qual for a razão que se evoque, desde a mais desonrosa (sempre financeira), até a mais íntima (a melancolia, a irresponsabilidade) não foi possível para eles se desprender, embora houvesse um risco anunciado: o fato é que eles não recuaram desse princípio de rir de tudo, rir de tudo, menos da possibilidade de rir.
O riso
Há o riso do cômico, cujo exemplo extremo é o pastelão, é o gozo que nos despertam as fraquezas, os tropeços, quando o que é automático revela o erro de seu funcionamento, surgindo o inesperado, como aponta Bergson, e que coincide com a comédia do falo, como nos diz Lacan. E há o humor que descentraliza, que desliza, que vivifica pela iconoclastia, pela afinidade com o furo, pela atenção ao que escapa do furor do ideal, pela benevolência cruel com a falha. É o humor que revira o sentido, desliza, subverte o sentido que vigora, é o humor que transgride. Este humor, marcado pelo non sense, é primordialmente não conformista e, embora se dirija ao Outro, se produz na solidão da criação. Nesse sentido, implica numa satisfação pulsional que vivifica, mesmo o humor mais negro, ao revirar um sentido sinistro, introduz alegria no horror. Lembro as piadas que autores como Viktor Klemperer relatam em seu diário na Alemanha nazista.
Num mundo em que o pai responde com furor e capricho, não se suporta este riso que faz deslizar o sentido. Quando o discurso fundamentalista exige que não haja vacilação de sentido para que o delírio religioso se sustente e sustente seus devotos na crença absoluta, o imenso risco do fracasso torna a todos muito sérios. Como dizia uma charge retratando revoltas populares na faixa de gaza nessa época: ”que gente estressada!” O riso aí, o poder da comédia ao revelar o derrisório do falo, a precariedade do pai e do ideal, pode despertar as paixões mais mortíferas, o próprio ódio que se abriga sob a indignação, por exemplo. A blasfêmia que pode se apresentar nesse extremo do humor carrega então uma face mortífera, quando seu agente não pode ceder desse gosto, desse gozo ao qual se condena não mais se apoiando no ideal do eu, mas nessa forma de gozo superegóico – do gênero: “perder o amigo, mas não perder a piada”. Assim, esse não conformismo do humor, como um valor do qual não se pode ceder, essa liberdade de tudo dizer, pode ser para o Outro do sentido um insulto, um ultraje, uma blasfêmia.
Paradoxos
É possível rir de tudo? Para a geração de humoristas pós-68, não. O humor, como as palavras, têm limites, a noção de responsabilidade política pelo que se diz, o reconhecimento do poder e do perigo das palavras suplantou o gozo de tudo dizer. O reduto do “tudo dizer” ainda se encontra na psicanálise, que conhece os limites desse dispositivo e acolhe os pequenos depósitos dos gozos obscuros de cada um. Sem, no entanto, perder de vista a dignidade a extrair para cada um desses restos, afinal, a dignidade aponta para o que há de mais singular que marca e dá valor a cada um. E até porque a psicanálise verifica o impossível de tudo dizer, a impotência das palavras para dizer o real, a violência do insulto sempre anda por perto das palavras.
Mas sabemos do radicalismo fascinante do humor de um Wolinski, por exemplo, que não recuava do direito iluminista de ir longe demais. Os perigos e fascínios da razão. O quanto isso tinha de mortífero é seu segredo agora.
Retomando ainda: é possível rir de tudo? Não, porque a blasfêmia está de volta, o que quer dizer que as palavras, bem como as imagens que falam, que são textos, e que nunca deixaram de insultar ao se dirigir ao ser do outro, inseridas na violência da linguagem, agora não são suportadas por esses ofendidos que se revoltam.
A paixão de tudo dizer, de tudo rir, essa espécie de direito ao riso absoluto, ao confinar com o insulto ao gozo do próximo, encontra um limite já no racismo que engendra com esse desprezo ao derrisório da fé estranha, estrangeira. Assim, podemos nos interrogar se o direito de rir de tudo já não é necessariamente um insulto ao gozo do próximo. Um fato de racismo, racismo de gozo. Não é um fenômeno francês, ou apenas de primeiro mundo. Está relacionado ao recrudescimento do sentido religioso. (Do lado da psicanálise, a questão se expressa mais no sentido do humor, menos do riso). De todo modo a mordacidade de qualquer riso, traz sempre a surpresa, a irrupção, nem sempre partilhável, mas emergindo de uma fonte tão íntima quanto estranha.
Uma palavra sobre a dignidade. Se a dignidade evoca em cada um o que há de mais singular, o que singulariza o sujeito no mundo, ela se realiza no significante que o representa, está referida ao significante com o qual o sujeito se coordena, logo, àquilo do qual não se pode abrir mão, ao custo por vezes da vida, ou pelo menos, no campo onde essa aposta pode se dar, onde se transita no fio tênue que às vezes separa o sacrifício do heroísmo, entre cair como pedaço de carne, ou morrer para fazer viver o significante, para preservá-lo. Como diz Miller em outro texto, “Nota sobre a honra e a vergonha”, morrer de vergonha para sustentar sua honra.
Parece que nesse massacre, que teve ares de tragédia, a nenhum dos dois lados, foi dado primmum vivere. A cada um dos lados não foi possível escolher a vida e perder a honra. Um dos lados morreu de vergonha, o outro morreu de rir.