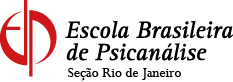27/11, às 18h
Exílios – Sinthoma, corpo e território
XXVII Jornadas da Escola Brasileira de Psicanálise – Seção Rio e Instituto de Clínica Psicanalítica ICP-RJ
Corpo e Sinthoma
Marcus André Vieira
Costumamos tomar nossos sintomas como males causados por agentes externos. Buscamos ajuda, de um médico por exemplo, como a de alguém que possa nos livrar desses padecimentos. É raro nos ocorrer que um sintoma seja também parte de nós. É exatamente, porém, o que faz o analista. Ele assume que o sintoma faz parte da constituição de quem sofre, trazendo, ainda que de modo cifrado, um tanto da verdade daquele que se queixa.
Assim lançada, do sintoma à verdade, a experiência analítica se desenrola como a busca de um si-mesmo original. Tudo se passa, então, como se fossemos de um “Porque sofro?” inicial a um “O que este sofrimento diz sobre o que sou?”
Essa verdadeira busca das origens, no entanto, não vai desembocar em um eu mais verdadeiro ou original. Quando chegamos perto dos confins, como na experiência de uma análise, desarmados, sem ideias preconcebidas, encontramos nossa singularidade distribuída entre toda uma série de experiências marcantes. Não apenas uma, mas as várias crianças que fomos, de tão variados os papéis que vivemos, e não apenas elas, mas a mãe, o pai e ainda muitos outros personagens, cheiros e sons marcantes.
Isso não impede que tenhamos unidade. No meio da colcha de retalhos que somos quase sempre há um território subjetivo relativamente estável que costumamos chamar de identidade. Ela não está na base, mas no topo do iceberg de todo um processo de construção de si.Vale o mesmo para o corpo. Esse corpo que reconhecemos e que nos representa foi primeiramente vivido como exterioridade. Para estar relativamente bem em meu corpo, foi preciso de algum modo me apropriar, fazer alguma coisa com o que os outros fizeram com ele para poder, frágil instavelmente que seja, ter um corpo para chamar de meu.
O mais comum é que essa unidade narcísica, como dizemos, se sustente em boa parte graças ao legado de uma história que nos é transmitida.Nem todos têm essa chance, sabemos o quanto muitos recebem sua história pulverizada, negada,
silenciada.Exatamente porque um dos caminhos comuns para pôr ordem na casa de uma história é recorrer a polarizações, às vezes violentas, que inocentam alguns personagens de tudo enquanto criminalizam outros antes mesmo ouvi-los.
Seja como forem constituídos corpo e identidade, assumiremos, com Freud que sua base é plural.O analista se depara, desde o início, com este excesso que por não encontrar lugar vem nos transtornar, das enxaquecas às fobias, só que, como confusão original, não desaparece quando o transtorno se vai. Lacan nunca deixará de chamar essa base, sintoma, mesmo quando não se apresenta exatamente como um padecimento. É para que nunca esqueçamos que essa pluralidade é invariavelmente perturbação, tumulto.Não haverá eliminação ou assimilação total do que constitui o fundamento dessas perturbações, pois ele é a vida que na vida não coube.
O que coube tornou-se nossa identidade. Nosso “si-mesmo” é uma construção provisória feita daquilo que, do tanto que poderíamos ser, pôde fazer parte do quotidiano de uma história, sempre atarantada por essas tantas outras vidas a que renunciamos a cada vez que acordamos e tomamos café. Nesse sentido, a singularidade é sintomática, vai sempre contra a identidade e a integridade corporal.
Uma análise, para Lacan, pode oferecer um destino novo para essa nossa base fora de esquadro. Contará para isso com o que o tumulto deixou como marcas. É possível trazê-lo para o campo do que somos desde que se possa fisgá-la em uma rede feita dessas marcas. Basta, para isso, tomar a operação analítica como um processo de escrita. Não a escrita em seu aspecto de registro ou transcrição de acontecimentos, mas por suas propriedades de enlace, de manter unidas coisas que nada têm entre si, tal como as marcas do vivido que não puderam fazer parte de nosso si-mesmo.
Para demonstrar essa possibilidade em ato e não apenas em tese, ele recorre a um artifício de escrita passa a notar o termo sintoma com sua grafia em francês arcaico que traduzimos como sinthoma e que conta especialmente por não ter nenhuma presença na pronúncia do termo que é idêntica ao termo comum. Sinthoma só existe na escrita e não na fala. Nesse novo-velho termo, insiste todo um passado esquecido e muito mais por meio de sua homofonia em francês, que remete, entre outras coisas, a São Thomas de Aquino e a James Joyce. Tudo isso, concentrado em alguns traços de escrita aparentemente sem valor, mas que rementem e dão lugar a um mundo de coisas.
Esse procedimento lembra o que fazem alguns quando acrescentam uma dupla consoante em seus nomes próprios ou um “y” aqui, um “w” ali. Em uma análise, porém, serão traços“ancestrais” os que virão, traços que não têm lugar na cena do corpo ou das ideias, mas que podem se apresentar, às vezes, em uma memória meio
conturbada ou apagada, assim, como um garrancho histórico. Se, como afirma Lacan, o inconsciente é a memória do que se esqueceu, uma análise será, nesse sentido, abrir as gavetas, encontrar coisas espalhadas, jogar um tanto pela janela e amarrar as sobras de algum jeito que sirva para poder deixar o vento percorrer de outro modo a casa.
É possível que uma prática como essa seja de valia hoje? Se o que foi dito até aqui se sustenta, creio que sim. É preciso, porém, cuidado. Nós, analistas, em grande maioria, fazemos parte da hegemonia branca de um país que põe em curso uma máquina de moer gente, um país que tem, hoje, no poder, os que desejam deixar morrer, velhos, mulheres e negros na versão colonial de uma necropolítica pseudo-teocrática em que vivemos. Neste contexto, qualquer universalismo é perigoso. É preciso perder o lugar de enunciação de verdades universais ou aceitar vê-las rejeitadas em bloco com toda razão, mesmo quando razoáveis, porque vindas do branco no poder. Não podemos dizer, como dizemos às vezes, lacanianos, que o sujeito não tem cor, ou gênero. Nem mesmo visar um “comum” que só existe negando-se uma diferença que pode ser baseada em efeitos imaginários de superfície, de pele, por exemplo, mas não é por isso menos mortífera.
Pode ser difícil ser reduzido a um lugar, uma posição discursiva fixa, a do branco, por exemplo, mas se nosso trabalho consiste em encontrar a singularidade que expõe cada um à sua estranheza múltipla e subverte sua identidade, não há nada que o impeça de prosseguir, com ganhos para os sujeitos a partir de identificações fluidas o bastante para acolher as surpresas que fazem a vida.
Pode A. Mbembe estar certo quando afirma que não há como não ver que o mundo eurocêntrico, ocidental, primeiro mundo, em que nos incluímos, analistas, não tem como começar mais nada por si mesmo? Que a descolonização precisa ser pensada como um atravessamento dos binários, branco-preto e outros, rumo a outro modo de estar no mundo? Quem sabe poderiam, nesse sentido, as gambiarras que promovemos, feitas de nossos restos de identidade contribuir para forjar, como propõe J. A. Miller, modos de identificação não segregativas tão vitais hoje?