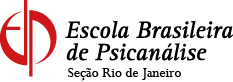Por Elisa Werlang Foi com muito entusiasmo que aceitei o convite para uma conversa no…
COMENTÁRIO SOBRE O SEMINÁRIO “A POLÍTICA DA PSICANÁLISE”
Por Aspazia Barcelos
No mais recente encontro do seminário “A política da psicanálise”, tivemos a alegria de contar com uma fala inspirada e cativante de Gilson Iannini, da Seção Minas Gerais, convidando-nos a pensar as fronteiras e litorais de temas como as inteligências artificiais (nem tão inteligentes, nem tão artificiais), a humanidade e sua parte “máquina”, os sonhos e os delírios. E como pano de fundo, suscitando inquietude – como não poderia deixar de acontecer – o infamiliar que nos habita.
Diante do fascínio que a promessa de máquinas que aprendem desperta na humanidade – ontem e hoje – nos perguntamos, à luz da psicanálise, qual seria o limite desse aprendizado – e quais suas consequências? Que aprendem, não resta dúvida, e a partir do estudo conduzido pelo próprio Iannini verificamos (não sem um tanto de surpresa) que as máquinas podem aprender a sonhar! Melhor dizendo, as máquinas conseguem processar informações textuais de sonhos que simulam os mecanismos humanos e podem aprender aquilo que, em nós, também é da estrutura de máquina – os mecanismos de condensação e deslocamento, metáfora e metonímia. Através de conjuntos de simuladores que processam uma quantidade gigantesca de dados simultaneamente em forma de “camadas” – a “nuvem” – a rapidez e a amplitude das respostas que tanto nos impressionam não passam, em última instância, de um sofisticado mecanismo de processamento que demanda um investimento descomunal de energia do planeta.
Iannini nos apresentou o artigo publicado em 1970 por Masahiro Mori, onde o cientista, engenheiro e professor de robótica japonês elabora o conceito de “vale infamiliar” (Uncanny Valley). A hipótese de Mori surgiu de uma constatação: quanto mais parecido com um humano, mais atraente se torna um robô. Contudo, quando a tecnologia se aproxima da realidade a ponto de ser praticamente impossível dizer o que é e o que não é, testemunhamos um tal desconforto que nos provoca tanto confusão quanto repulsa. Algo que Freud já nos ensinava em 1919, em seu texto “Das Unheimliche”. Ao comentar o conto “O Homem de Areia”, de E.T.A. Hoffmann – que tem como uma das personagens a boneca autômato Olímpia – nos diz que esta seria “uma condição especialmente favorável para a eclosão dos sentimentos do infamiliar, na medida em que desperta uma incerteza intelectual, se algo estaria ou não vivo”[1].
E se estamos na era da indiscernibilidade, com a dissolução das fronteiras entre o humano e o não humano, as esferas pública e privada, a fantasia e a realidade, a hipótese de Iannini nos provoca: estamos vivendo mergulhados no vale infamiliar? E se assim for, como criar estratégias que funcionem como um anteparo frente a esse real que se apresenta sufocante, numa profusão infinita do objeto a em sua versão mais-de-gozar? Seria essa uma versão “barulhenta” da pulsão de morte, que testemunhamos pelas variadas formas de adição e mal estar contemporâneos? Parece necessário interrogar os efeitos do desenvolvimento atual da ciência e o próprio papel da psicanálise nesse cenário.
Iannini nos convoca, então, a uma aposta radical no falasser, e no ensino do ultimíssimo Lacan, abrindo mão do que seria supostamente o domínio do “humano”, e nos convida a pensar moebianamente o ponto inferior do vale, onde se conjugam o sentimento de familiaridade e de repulsa. Num mundo onde progressivamente o humano e a máquina se hibridizam, dissolvendo as fronteiras, por quais artifícios podemos fazer uma borda ao real?
Seria a arte um desses artifícios? Ainda que “infamiliar” para nós – e talvez por pouco tempo – uma peça de teatro encenada em SP em 2019 por uma companhia alemã apresenta um monólogo onde o “ator” é um androide. Ali, um robô criado à imagem e (quase) semelhança do escritor Thomas Melle interage com o público e discorre sobre temas como a bipolaridade, a tecnologia e a competência das cópias para ajudar ou não os humanos. Na mesma direção, lembro a ORLANoide, uma humanoide atualmente em exibição também em SP, criada pela artista francesa ORLAN para ser um experimento de hibridização de inteligência artificial, coletiva e social. A androide, com o rosto e a voz da artista, canta, dança e responde perguntas do público, enquanto interage também com vídeos onde ORLAN filmou espécies de “manifestos”. Finalizo assim com as palavras da artista: “eu sou um corpo, inteiramente um corpo, nada além de um corpo, e é meu corpo que pensa. Pode-se dizer que é uma máquina sofisticada, mas de carne, o que faz toda a diferença em relação aos robôs de metal ou plástico”[2].