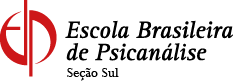Curadoria: Cínthia Busato (EBP/AMP) – coordenação, Artur Cipriani, Bárbara Biscaro, Lucila Vilela, Valéria Beatriz Araújo
O que se constrói? Diante do que se constrói? Convocados pelo tema de nossa jornada podemos pensar, com Freud, que numa análise se constrói uma cena, a fantasia fundamental que vela o indizível, o inimaginável do real. Essa fantasia é construída em torno de um abismo que produz eco no corpo: “as pulsões são no corpo o eco do fato que há um dizer”[i]. Epistemicamente temos muitos espaços de construção em nossa Escola, aqui apostamos em fazer existir um espaço de ex.peri.ência(s), pois a arte também constrói algo em torno do real, também conhece o abismo e faz algo com ele, toca o real, criando bordaduras.
Tomamos essa palavra, experiência, em sua etimologia: “eks” o que vem de fora, “peri”[ii] tentativa, prova, ensaio. Uma palavra que pode tocar um intraduzível, no sentido que lhe dá Barbara Cassin –“o intraduzível é antes o que não cessa de (não) traduzir”[iii]. Um espaço com valor de experiência, da experimentação, daquilo que toca os sentidos e também o fora do sentido. O que entra pelos sete buracos da cabeça, no bem dizer de Caetano.
Sabemos que os artistas, como sujeitos atentos e atravessados pela época, implicados num movimento, provocam ressonâncias no campo social e político, irredutíveis à dominação e à categorização, expandindo galáxias. E a arte como um nomadismo constituído por uma linha de fuga, um movimento que, no espaço-tempo, desloca saberes, cria passagens entre mundos.
Nesta curadoria contamos com a participação de duas artistas, Bárbara Biscaro e Lucila Vilela. Bárbara trabalha com construções sonoras, esculpe o objeto voz, e Lucila, trabalha com dança e artes visuais e é pesquisadora da obra de Loïe Fuller (1862-1928), a artista que escolhemos para iniciar aqui as postagens com o foco no objeto olhar.
A escolha de Loïe Fuller se inscreve pelo efeito que causa visualmente, uma beleza que está entre pisar e voar, movimentos que vão compondo imagens como um caleidoscópio. Também porque seu trabalho inédito foi concebido, literalmente, a partir de um tropeço. Decidida a ser artista em Nova Iorque ainda no século XIX, ela consegue um pequeno papel em uma peça de teatro. Em uma entrada em cena, por estar com uma saia muito grande, tropeça segurando-a pelas laterais, e, desse gesto,constrói seu trabalho.
Conhecida como uma das pioneiras da dança moderna, inventou movimentos com um figurino de metros de seda estruturados por uma armação que pareciam asas e quando expostos a feixes de luz criavam uma cenografia incrível.A artista provocou uma ruptura nos movimentos já existentes na época e três coisas foram fundamentais para essa inovação: o figurino, a cenografia e a iluminação. O figurino usado por Loïe funcionava como uma tela de projeção para suas performances vanguardistas e, assim que chegou a Paris,chamou a atenção de artistas, pintores, poetas, escritores.
Esse é um espaço de construção coletiva, contamos com o envio de ex.peri.ência(s) de todos para fazermos aqui, em ato, bricolagens que convoquem o objeto olhar, o objeto voz e que toque no vivo do corpo. O tema da nossa Jornada, Falar do que não existe: do gozo do sentido as bricolagens possíveis, já indica um saber fazer com os restos, cacos, peças soltas. Todos os trabalhos inseridos aqui, formarão um espaço não ordenado, uma caixa cheia de coisas que cada um “bricolará” como quiser.
As contribuições para este espaço podem ser enviadas ao e-mail: jornadaebpsul@gmail.com
[i] Lacan, J. O Seminario, livro 23: O sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
[ii] Olafur Eliasson: O corte nos tempos. Nohemí Brown – com Christiano Lima, Cristina Duba, Fátima Pinheiro, Lucila Darrigo e Marcia Stival.
[iii] Cassin, Barbara (coord.). Dicionário dos intraduzíveis: Um vocabulário das filosofias. Volume um: línguas. Organização Fernando Santoro, Luisa Buarque. Belo Horizonte: Autentica, 2018.
Sobre a voz.
Barbara Biscaro
A voz-corpo viveu e vive, através das práticas humanas, processos de silenciamento, colonização, medicalização, esquecimento, tecnicização, gravação, coletivização, segregação e afirmação de identidades individuais e coletivas. A voz humana é aquilo que carrega a palavra, mas também é aquilo que sobra, que transborda, que dá voltas pelos ossos, que sibila nas ruínas da semântica através do grito, do gemido, do sussurro, da risada. É aquilo que canta. Paul Zumthor, medievalista suíço, em uma imagem preciosa, descreve que o gesto expressivo tende à dança, assim como a voz expressiva tende ao canto. Se pudermos entender aqui o canto de forma expandida, como uma miríade de práticas humanas tão antigas quanto a nossa própria origem como espécie, podemos então perceber que quem canta, o que canta, onde canta e para quem canta conectam a substância misteriosa da voz ao corpo que a produz e ao corpo que a escuta. A voz é carne que dança dentro dos ossos alheios.
Comecei a fazer aulas de canto clássico aos quinze anos de idade. Com o tempo, descobri que o que me movia em direção ao canto não era um interesse em música, mas sim um arrebatamento diante da sensação física de cantar. Intui, naquela época, a existência do erótico da voz. A linguagem veio depois e sinto que, desde então, tenho tentado dar conta de criar práticas e poéticas que possam dar contorno e regras para que a voz esteja sempre em jogo, preservando, em sua substância efêmera, o corpo que a produziu em primeiro lugar. Um corpo mutável e desejante. Um corpo feito de relações. Um corpo impregnado de história e ao mesmo tempo de fantasia, de imaginação, de milhares de ficções possíveis.
A voz, em meu trabalho artístico e pedagógico, é uma forma de contato profundo consigo mesmo e, ao mesmo tempo, de multiplicação de si. É a busca por texturas, formas, movimento e ações que me movem a vocalizar como alguém que dança; ou cantar como se fosse uma escultora precisa, empilhando sons no espaço. Ou, então, agarrar uma canção pelas crinas quando me dedico ao repertório Brechtiano, por exemplo e, compreender que uma canção pode ser um grito, uma cusparada, um chiste, uma sentença de morte.
Que a seleção de trabalhos escolhida para estas ex.peri.ência(s) possa aguçar os sentidos para a voz, alargando horizontes e despertando os sentidos do corpo para a experiência física da vocalização e suas possibilidades estéticas e poéticas na arte.
Desterro, outubro de 2021.
Sobre a dança.
Lucila Vilela
Como falar sobre o que não existe? Transcrever em palavras as sensações e a experiência do sensível? Talvez tenha sido essa a grande dificuldade do público que, no século XIX, viu Loïe Fuller subir ao palco do Folies Bergère. Uma orquídea, uma nuvem, uma borboleta! Um fantasma, uma onda de oceano, uma cobra deslizante! Foram tantas as imagens e os comentários que muitos poetas e artistas produziram desenhos, esculturas, poemas e devaneios. Ela também apareceu em fotografias e experimentações que marcavam o início do cinema.
Marie Louise Fuller, conhecida como Loïe Fuller, em 1892, partiu dos Estados Unidos rumo à Paris, determinada em mostrar sua dança ao mundo. Com um enorme traje de seda chinesa, sustentado por varetas que funcionavam como extensões de seus braços, a dança de Fuller, “parece ter oferecido ao público uma tela metafórica onde se projetam fantasias do inconsciente, hipnotizando com seu poder semelhante às ondas do oceano ou as chamas de uma lareira.”[1] Ela aparecia e desaparecia. Era presente e ausente. Seu movimento era como um lampejo, que deixava um rastro no ar.
Evocar Loïe Fuller para falar do indizível parece ter sido certeiro. Essa figura que acabou se tornando emblema da Art Nouveau, causou sensações indescritíveis; e talvez por isso seu trabalho tenha se desdobrado em tantas outras linguagens artísticas. Como ondas que ressoam desde o fin de siècle até este em que habitamos, saturado de imagens, Loïe Fuller não passa despercebida. Sua dança ecoa, e produz ex.peri.ência(s).
Texto para a seção ex.peri.ência(s) da 2a Jornada EBP Seção Sul.
Desterro, outubro de 2021.
[1] GARELICK, Rhonda K. Electric Salome: Loie Fuller’s Performance of Modernism. Princeton: Princeton University Press, 2007, p.15
O tátil e a experiência
Artur Cipriani
Interessa-me aqui comentar, no campo das bricolagens possíveis, a “experiência” pelo ângulo do sensível: do que se pode experimentar na audição de uma vocalização, na visão de obras de artes plásticas e performativas, na sensibilização da língua por uma madalena, na ativação olfativa por conta de um perfume nunca antes lembrado, etc. São experiências que podem disparar um choque na cadeia dos significantes, da história e da memória de um sujeito, mas (e isto é aqui o principal) cuja subsequência não se resume a um processo de repassamento e empilhamento de sentidos, mas que pode operar em seu efeito um furo na redoma da fantasia[1].
Buck-Morrs (1996) situa a etimologia de “estética” no grego aistitikos, palavra para aquilo que é “perceptivo através do tato”. “(…) Aistisis é a experiência sensorial de percepção. O campo original da estética não é a arte, mas a realidade – a natureza corpórea material. Como escreve Terry Eagleton, ‘A estética nasceu como um discurso do corpo’”. Aqui, Eagleton opõe o nascimento da estética à “tirania do teorético” – a esta não poderíamos opor também, claro, o “nascimento da histérica”, e o sentido corpóreo-sensorial de sua sintomática?
Faço tal volteio para tentar precisar o ângulo “tátil” da curadoria que pretendemos fazer. Num momento em que convivemos com uma digitalidade não tátil e com uma espécie de Outro algorítmico, é por demais árido nos conformarmos com a tateabilidade do álcool em gel e dos ossos sem carne; por outro lado, acostumarmo-nos à escalada diária, contínua e absurda dos números pareceria um adormecimento perigoso. Nesse sentido, a proposição deste espaço que busca privilegiar o tátil e a experiência estética em seu sentido original é uma tentativa de fornecer elementos para bricolagens de todos e de cada um. Sejam, pois, todos convidados a futucar nessa caixa, e também a nela depositar mais coisas!