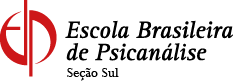Teresa Pavone (EBP/AMP) É com satisfação que apresento o VIII Boletim da Seção Sul ao…
Quem fala?
Sérgio de Mattos (AE, EBP/AMP)

Sou no lugar desde onde se vocifera que o universo é um defeito na pureza do não ser (Paul Valery – Escritos)
Tudo era vasto, mas ao mesmo tempo íntimo e secreto (Borges – El sur)
Quem
Escolhi esse título em um movimento de precipitação. Uma precipitação em relação ao título dessas jornadas: “Discursos e corpos: a causa do dizer”. “Quem fala?” foi um modo de me dar um ponto de partida para uma trajetória em que eu pudesse atravessar esse título. Desse modo, estabeleci também um lugar que segue a interrogação, um lugar vazio onde pretendo escrever: “Quem fala?”
Assim, eu me lancei em fazer aparecer algo que ainda não sabia quando aceitei o convite. Tenho um certo gosto em proceder assim como um analisante, buscando saber, buscando sem saber, o que é uma outra maneira de dizer que eu não gosto muito de procurar, porque eu prefiro achar… e quando acho…
“Quem fala?” não é uma pergunta qualquer. Ela toca o coração da questão sobre quem somos, especialmente quem somos quando falamos. Ela nos leva aos mistérios do corpo falante, que é a nossa condição de animal suportado, atravessado, enredado, transmutado pela linguagem. A pergunta sugere ainda um agente: “Quem” ou algo que esteja em causa quando há um dizer. Assim, quando nos perguntamos: “quem fala?”, outra pergunta se coloca imediatamente: “quem é quem?”
Há algum tempo atrás, na era das “linhas telefônicas” e seus aparelhos exclusivamente sonoros, era comum ouvirmos essa pergunta: “Quem fala?” ao ligarmos para alguém ou quando atendíamos a um telefonema. Podíamos ouvir também sua variante importantíssima: “de onde está falando?” O antigo telefone parece mais psicanalítico do que os atuais aplicativos de comunicação, que nos fornecem imediatamente o nome de quem liga –se está em nossa lista de contatos – e uma imagem ou fotografia – selfie – de quem ou de onde estamos sendo chamados. Essa identificação tão imediata não deixa de colocar uma questão para o psicanalista, que não pode deixar de se perguntar se, de fato, aquele nome e aquela imagem correspondem a quem está falando; em outras palavras, até que ponto aquele que se identifica como quem fala coincide com ele mesmo?
O interesse por saber quem fala parece crucial nas nossas vidas. E talvez não seja possível um percurso de análise sem que um sujeito esteja metido nessa questão até as suas tripas. O que não quer dizer que devamos levar a sério demais quando alguém nos procura dizendo que quer se conhecer melhor. É preciso que se desperte um querer saber sobre seu sofrimento; ou seja, seu gozo.
Em 1960, foi criado o famoso “Telefone vermelho”, uma linha de comunicação direta entre Washington e Moscou, para evitar conflitos entre as duas maiores potências mundiais durante a Guerra Fria logo após a crise dos mísseis em Cuba, que quase nos levou a uma guerra nuclear. Parece que não houve nenhuma ligação, mas se tivesse havido uma chamada, saberíamos exatamente quem estava do outro lado da linha; era a voz da guerra.
Na verdade, não era um telefone, mas uma espécie de fax antigo. As chamadas de voz eram consideradas muito arriscadas, o que mostra a intuição daqueles governantes de como a linguagem falada produz equívocos, sombras, mal-entendidos. Há, nesse episódio, o que talvez seja um fato de estrutura. É que, talvez, seja melhor nunca termos uma resposta evidente para essa pergunta: quem fala ou de onde fala? Ela parece indicar que, quando se sabe com quem se está falando, estamos em guerra.
É esclarecedor verificar que isso é o contrário do que ocorre com o analisando ou com aquele que procura uma análise. Nesses casos, eles não sabem quem fala quando estão falando. Ou, se acham que sabem, cabe ao analista, no caso das neuroses, logo dar-lhes a chance de notar que se enganavam e que falam de outra coisa.
Onde
O dispositivo analítico é feito para socorrer aquele que não sabe quem fala e que descobre que tudo o que diz pode querer dizer outra coisa, que diz do sujeito, mas vindo de um outro lugar em si mesmo. É a isso que chamamos enunciação. A enunciação depende do lugar desde onde se diz alguma coisa e do momento em que foi dito. Por isso, é tão difícil, como disse Miller, dizer: digo e repito! Porque, ao dizer, as coisas se modificam e quem disse algo desde um lugar em um outro momento pode dizer outra coisa, e, assim, aquele que disse algo parece desaparecer em seguida de dizê-lo.
A psicanálise, dessa perspectiva, gira em torno do que desaparece, mas que deixa um traço desse desaparecimento, como o caracol que deixa seu rastro enquanto anda. Traço sempre fugidio e por nós sempre procurado. Desse modo, para a psicanálise, todo ato autodeclarativo é suspeito. Devemos tomá-lo como um esforço de poesia; ou seja, a princípio, em uma psicanálise, considerada em toda sua potência, o psicanalista recusa o simples dito do analisante, não validando simplesmente sua crença no que é e no que diz.
Falar do lugar de um samurai ou de um fusquinha
Em uma análise, portanto, as coisas caminham em outra direção. É preciso localizar quem fala em nós, ou, mais precisamente, de onde falamos.
Olhando para o passado, com os instrumentos de leitura que aprendi da experiência de minhas análises, posso dizer que as condições e acontecimentos que se escreveram em minha existência geraram em mim uma tendência ao apagamento[1]. Os devaneios, que, como disse em outros textos, eu acalentava, onde eu fantasiava que teria como meu epitáfio: tornar-me cada vez mais silencioso e apagado, revelam a imagem convincente dessa situação. Como contraponto dessa aspiração em ser ninguém, havia em meu fantasma fundamental uma espécie de persona, de identidade, um papel privilegiado que guiava minha relação com a realidade: ser um salvador, cuja figura paradigmática era a de um samurai, o guerreiro ideal, culto, a serviço do Outro, pronto para dar sua vida pelos seus propósitos. Se busquei ser alguém em minha vida, foi no lugar do samurai que me inspirei e onde me identifiquei. Esse foi certamente o modelo que condensava atributos, expectativas, anseios, um modo de gozo e uma maneira de montar meu corpo; melhor dizendo, armá-lo e amá-lo. Estar em prontidão, alerta, com um corpo ágil, flexível, cheio de energia e mortal. Posso dizer então que eu falava desde o lugar do samurai.
Mas, ao longo da análise, me descobri também em um outro modo de ser, com o qual eu era alguém sem dúvida menos charmoso para mim mesmo e bem menos adorável aos meus próprios olhos. Em um sonho que faço já me encaminhando para o final de minha análise, apareço representado como o objeto que salvaria o Outro de sua incompletude e inconsistência na imagem de um Volkswagen. O Fusca era um objeto de consumo extremamente desejado pela minha mãe e foi o motivo de um desentendimento entre meus pais, que presenciei e que culminou na cena traumática, na origem da minha neurose infantil. Esse sonho revelou, de forma cômica, outro lugar desde onde eu falava, efeito cômico que teve consequências para que, em seguida, após uma interpretação da analista, eu me afastasse desse lugar de enunciação. O cômico surge quando o objeto de meu fantasma aparece revestido com a imagem do Volkswagen e me situa como sendo “O Fusca”, fazendo com que esse objeto, até então revestido de um brilho fálico de alto valor sacrificial – vale lembrar que meu sobrenome de origem materno é Cordeiro –, sofre um rebaixamento ao transforma-se em o-fusca, ou seja, nada mais que ser um fusquinha. Fusquinha apagado, caído, que na cena do sonho aparece no fundo de um buraco, obturando-o, buraco no qual, desde sua borda, eu me via duplicado, ao mesmo tempo preso dentro do automóvel e fora dele, rindo do ridículo da situação. A interpretação da analista – “um fusca por um filho” – remetia ao meu lugar de objeto de troca, porque, no momento em que minha mãe ganha o Fusca de meu avô, vou morar com meus avós.
Reduzo então, para efeito de transmissão, os lugares de minha enunciação a duas vozes principais que davam as condições de contorno, o lugar de fundo de meus enunciados, ou seja, do que dizia. Em outras palavras, do ponto de vista do inconsciente, minha identidade, suposta àquele que falava, se dizia do meu fantasma ou do objeto. De modo que, se alguém me perguntasse “Quem fala?”, a resposta mais verdadeira que eu poderia dar seria: um samurai (Ossu!), ou, aqui fala um fusquinha (bi bibi). A enunciação e o dizer são, na psicanálise, o lugar que visamos para recolher no depósito dos efeitos os traços, operando assim uma redução do imaginário ao fantasma fundamental (esfoliação) e a redução do simbólico a um significante sozinho, um traço.
O que quer dizer um lugar: lugar de fala
Vê-se, no fragmento de análise que expus acima, como uma espécie de identidade do sujeito, a localização do lugar de onde fala, foi objeto de um longo trabalho pela via do discurso analítico; trabalho de decifração, interpretação, nomeação. Perspectiva que se opõe ao que observamos na atualidade, quando uma certa recusa de subjetivar esse traço faz com que se coloque a cargo dos laços sociais a produção de uma resposta pela via do chamado lugar de fala: me diga de onde tu falas e te direi quem és. Ou, ainda, te direi quem fala e se tens o direito de aqui falar ou não. O lugar de fala, ao invés de ser o enigma que é para a psicanálise a enunciação, torna-se a assinatura do sujeito que não permite interpretações. Os indivíduos aí localizados encontram-se como enclausurados em si mesmos, petrificados em uma identificação.
Por outro lado, em seu ensino, Lacan desloca-se cada vez mais do “quem” para o “onde”, mas trata-se de um lugar onde o que se escreve determina um lugar de maneira contingente e para cada um.[2]
Quando um traço fala da estranheza
É neste sentido que caminha uma análise. Já avançado em meu percurso, um incidente se chocou com os arranjos que eu vinha fazendo. Esse choque com o real lançou-me em um período de grande desolação. Sem minha antiga armadura de samurai, e todo meu investimento analítico atraído por um significante solitário e assemântico, “apagar”, fiquei em pedaços e me senti desconectado do mundo, onde tudo se tornou estranho. Experimentei um bloqueio para associar e uma ausência de sonhos que nunca havia me acontecido. Vivi ainda uma experiência de despersonalização significativa, incidindo na imagem de meu corpo, o que, digamos assim, aprofundava o desconhecimento de quem eu era.
O mundo não me parecia mais o mesmo. Tinha a impressão de ter perdido a forma humana, eu e todo mundo, especialmente as mulheres. Um aspecto dessa estranheza salientava-se no campo visual. Algo que me vinha com um certo desgosto: imaginar as pessoas como um tubo entre a boca e o … Havia também uma particularidade estranhamente marcante nessa imagem: as sobrancelhas. A estranheza devia-se à impressão de que esse traço peludo estava vivo como um animal alienígena, desconhecido e com vida própria. Por que algo tão familiar como uma sobrancelha ganha, nesse momento, esse tom perturbador de uma inquietante estranheza?
No capítulo X do Seminário 23[3], Lacan concebe a experiência de estranheza do corpo como efeito da separação dos registros I e S; ou seja, que eles retornam ao seu estado de independência original no caso de ocorrer uma disjunção. Em relação ao sujeito do significante, quando há disjunção, o corpo, que não passa de um móvel que carregamos amarrado ao sujeito com a ajuda do simbólico, ganha vida própria, pois o corpo é de outra ordem, da ordem da coesão do imaginário. Por isso, ele é um estranho ao simbólico enquanto sistema de significantes e produção de significações. Esse caráter de estranheza, que é normalmente velado pelo enodamento borromeano, se mostra então quando abalado, e o corpo, como imaginário, desligado do simbólico, segue seus próprios caminhos.
Retorno, então, à pergunta: por que essa curva quase discreta em nossos rostos – as sobrancelhas – torna-se nessa ocasião uma inquietante estranheza? Por que é que esse traço do corpo incorpora a imagem de uma vida incompreensível, alienígena? Arrisco-me a dizer que é porque as sobrancelhas tornam-se a imagem de um traço dessa desconexão, do traço que sobra da vida enquanto tal, da vida como real, mas penetrada pelo imaginário.
Ao olhar para trás, em relação à vida familiar enquadrada pelo meu fantasma, posso dizer que eu vivia uma vida sem ver a vida; ou melhor, sem ver que há uma vida que vive de si mesma e da qual participo. Afinal, como diz Lacan, nós, enquanto organismos vivos, não passamos de apêndices da vida incompreensível, como seus tubos viventes[4]. Hoje, penso que a estranheza se mostra quando o real da vida irrompe e escreve seu traço no tecido imaginário do corpo como um enigma. Não é sem razão que uma das maneiras de o estranho aparecer nos textos de Freud seja justamente quando um objeto inanimado aparece vivo. Penso que, nessas ocasiões, somos nós mesmos que, estranhamente, nos percebemos como parte dessa imensa estranheza de sermos somente apêndices dessa grandeza desconhecida do vivo que existe. Hoje, eu me pergunto se, sem essa estranheza, pode haver alguma evidência subjetiva para nós mesmos de estarmos vivos. Nessa paisagem, parece-me que a estranheza é um sinal de que a vida se colocou fora de si e aparece como existente, especialmente naquele que pode tanto apagá-la, defendendo-se dela como só o neurótico sabe fazer, quanto naquele que pode propagá-la – talvez o psicanalista.
Podemos dizer que aqui falou esse corpo do lugar do estranho, deixando-me frente a frente com um traço que escrevia o corpo em uma imagem de um outro mundo, traço do fundo enigmático da enunciação?
Balbucios
Durante esse estranho cenário, intensifiquei minha análise até que surgiu uma única imagem em um sonho, o primeiro depois de muitos meses: “Caminho num deserto e topo com um toco”. Durante sessões, busco, com muita dificuldade, associar com as palavras “deserto” e “toco”, mas não tenho sucesso. O que consigo é fazer um ajuntamento que tem conexões entre si por assonância, em uma metonímia: toco, toca (como esconderijo, buraco), toca (de tocar bateria), tocar de ir adiante, oco, oca, osso, soco (minha prática do Karaté), avô, avó, (com quem vivi por muitos anos) conó (como eu chamava o refrigerante guaraná, meu único alimento na infância durante o período de minha anorexia infantil), deserto, dê certo, des-ser (deixar de ser).
Com o trabalho analítico, abrem-se duas perspectivas. Apesar da aridez de associações, o toco se faz um marco e uma orientação: tocar adiante. Trata-se, portanto, de uma solução pragmática: é isso, caminhe! Podemos dizer então que, até esse ponto, respondi ao meu desaparecimento por essas figuras: a do samurai no fantasma, a de um fusca como objeto em jogo no sintoma e com esse toco silencioso, do qual só tenho uma imagem. Talvez, nesse último caso, estejamos diante de uma imagem do real, onde o real não fala a não ser por meio de uma imagem. É isso! Ele diz, como sugere Miller, parodiando a prosopopeia lacaniana inspirada em Erasmo, em seu elogio à loucura: “eu, o real (silencioso), falo por uma imagem! Tu és um toco no deserto do gozo”.
O lugar do mais ninguém
O mais ninguém, sugere Miller, é um novo personagem no casting lacaniano. Ele é o porta-voz de Lacan[5]. De qual voz? Ele é o porta-voz da vociferação. Miller sugere que Lacan havia se plantado nesse lugar à espera de desenvolver suas consequências. Vou precisar me estender um pouco nessa noção de mais ninguém, plus personne, em função da sua complexidade. Ela se planta no escrito “A carta roubada”, a partir da palavra “nulilocidade”, criada pelo Bispo Wilkins, e se desenvolve em outras ocasiões, especialmente nas observações que faz a Daniel Lagache.
Anos depois, Lacan retorna a essa expressão no Seminário “De um Outro ao outro”, onde vai situar esse lugar como uma clareira aberta na mata das pulsões. É uma imagem! Imaginem! A mata pegando fogo e tem uma clareira, um vazio de vegetação onde o fogo das pulsões não penetra. Esse é um modo de controlar o fogo que usam as brigadas contra incêndio.
Essa é uma imagem poética de Lacan e ao mesmo tempo um “big bang” lacaniano. Porque a ideia de Lacan é situar aí o lugar do nascimento do sujeito. Temos, então, uma temporalidade; primeiramente, há um campo de gozo inorganizado, a mata das pulsões, e, em seguida, o significante incide nessa mata e cria essa clareira: “o significante apaga a coisa”, ele barra, esvazia algo desse gozo primordial, (G º $), e assim, diz Lacan, se produz uma ausência de sujeito, mas não que esse sujeito já estivesse lá, mas porque ele surge depois como uma “pessoa”, como um sujeito representável por um par de significantes. Verifica-se, a posteriori, por uma retroação, que na clareira não havia ninguém. Esse ninguém é, assim, o sujeito como vazio, o vazio que incita a busca de um outro significante. Assim, o mais ninguém é o sujeito produzido pela incidência da matriz elementar do significante: o binarismo entre o significante e sua ausência.
Lugar que Lacan escreve como uma defesa primordial, que consiste essencialmente em não estar ali. Essa é a forma primordial de defesa frente ao gozo: estar lá apenas sob a forma de uma ausência. É nesse espaço que se organizar no meio do fogo que poderão inscrever-se, em seguida, outros que engendrarão o sujeito propriamente dito, aquele representado entre um significante e outro.
O mais ninguém é uma imaginação lacaniana importante para pensar a organização primária do sistema psíquico. É uma suposição necessária para pensar essa origem. É uma ficção no sentido de constituir um artifício para captar algo da nossa experiência, onde temos a noção de que algo como um sujeito se autodeclara “eu”, um si mesmo, que emerge de algum estado ou arranjo. É uma ficção importante, se não quisermos apelar para alguma substância pensante ou colocar nesse lugar um Ser Supremo Criador, que faz surgir esse sujeito em cada um de nós.
Essa é, portanto, uma expressão que me parece irônica. O mais ninguém é designado assim na medida em que não colocamos aí o Criador, ou seja, onde havia alguém criador. Agora, nesse esquema, já não há mais ninguém, não há nem mesmo um criador, mas uma criação que vem do nada. O mais ninguém se refere à retirada do criador do lugar da criação do sujeito, mas também situa nesse vazio o lugar onde instalamos, em uma análise, o sujeito suposto saber. A ironia consiste em fazer esse Outro, o Criador, deixar de existir, mas também usar esse lugar como um artifício, como propulsão para a viagem de uma análise.
Assim, o mais ninguém não é alguém. Não é alguém especial, diferente, ele é um lugar vazio de pessoa. Nesse vazio há, entretanto, um chamado à subjetivação desse vazio, o que nos remete ao interesse de Lacan pelo Zen e por essa forma de expressão que ganha uma grande importância, que é a vociferação.
O homem verdadeiro sem situação
Depois desse percurso um pouco árido, vou dar uma voltinha pelo oriente de Lacan, por algo que tem a ver com o que estamos falando. Vou apresentar a vocês o chamado homem sem situação, ele é certamente mais um dos antecedentes do mais ninguém e é dele o melhor exemplo da vociferação.
Podemos dizer que, se perguntássemos a esse homem sem situação “quem fala?”, ele certamente nos responderia com um grito, um Khât, ou com uma paulada. Lacan e Miller se interessaram por esse tipo de homem um pouco louco[6], porque seu modo de responder, que não é um enunciado nem um dito, interessa ao psicanalista. Lacan conheceu esse tipo através de um livro traduzido por seu professor de línguas orientais, Paul Demieville, “As entrevistas de Lin-Tzi” [7]. Há nele uma passagem assim:
Lin-Tzi entra na sala e diz: “Sobre seus conglomerados de carne vermelha; há um homem verdadeiro sem situação”. Então um monge se destaca e pergunta: “O que é um homem verdadeiro sem situação?”. Lin-Tzi agarra o monge o imobiliza e grita: “Diga você mesmo! Diga!” O mestre o larga e diz: “O homem verdadeiro sem situação é um não sei que pau de limpar merda!”
Essa é considerada a quintessência do pensamento de Lin-Tzi. A resposta quer dizer que a definição do homem verdadeiro escapa a toda definição. O Buda mesmo, como indefinível, é chamado no budismo de bastão de limpar merda. O homem sem situação é alguém fora dos lugares determinados, sem características particulares. O “não sei que pau de limpar merda” representa esse resto fora dos títulos, predicados, qualificações, ou seja, fora de qualquer coisa que possa identificá-lo no interior de um sistema simbólico. Ao não estar identificado com nenhum predicado do sistema simbólico, ele fala de lugar nenhum.
Nas entrevistas dos mestres do Zen, comenta Miller[8], mais do que o que você responde, o que importa é responder sem hesitar. Se hesitar ganha um golpe de bastão na cabeça. Golpe do significante sem sentido no corpo, aquele que esvazia a mata do gozo, esvaziando o sujeito do pensamento que produziu sua hesitação. No Zen, trata-se de suprimir qualquer deliberação, premeditação e dúvida. O ideal é que se responda instantaneamente, como um relâmpago, ejetado como um jato súbito das profundezas do corpo no instante. Nessa ausência de pensamentos e instantaneidade, comenta Miller que ocorre então uma adequação de si a si mesmo, fazendo-nos sair de toda identidade.
A vociferação, portanto, supera a divisão entre o enunciado e a enunciação, onde uma parte de quem fala resta separada do que foi dito. A vociferação não se afasta de quem a pronuncia. E essa instantaneidade e condução fora dos emaranhados do significante ganham valor em vários aspectos. Por exemplo: um analista deve escutar no que se enuncia, da boca do paciente, o que se vocifera do lugar do mais ninguém. Um ensino da psicanálise parece se fazer a partir também desse lugar. É ele que inaugura a posição do analista, que não consiste em tocar o significante e em interpretar, senão também em apontar de entrada e verificar que o sujeito está ligado ao gozo, ao corpo.[9]
Na questão do corpo, o estabelecimento do mais ninguém corresponde a uma valorização da materialidade do corpo. O ser falante passa a ser um bavard (falador), de bave, o falador que respinga saliva quando fala, que baba, o que presentifica claramente a dimensão material do corpo em jogo, já que não é só a vibração do som que toca o corpo, mas seus líquidos espergidos ou escorridos. E o analista torna-se um rethor, aquele que põe na reta certa, que retifica, o retórico, aquele que aponta a não relação e o gozo como uma secreção corporal daquele que fala. Parece-me que esse rethor seja uma versão atualizada do mais ninguém, onde para além do peso da voz há algo a mais nessas secreções de gozo do corpo, que sugerem alguma outra possibilidade de como pegar a coisa com o corpo.
Isso nos leva de volta à conclusão da minha análise, que não cabe desenvolver aqui e está escrita em outros textos. Mas testemunho que é como se tivesse experimentado o que Lacan chamou de uma subjetivação do vazio, no meu caso, uma passagem do nada ao vazio. Por isso chamei meu primeiro testemunho de “nada como um vazio”, um vazio que vivificou meu corpo.
Quem fala? Confesso que de certo modo estou procurando quem foi aquele que encontrei no último dia de minha análise, mas como disse no começo, o que eu quero mesmo é achá-lo nas contingências. Abro-me para reencontrar aquele que experimentei como uma identidade vazia de mim, como corpo desinflamado de significações, como uma presença separada do pensamento, não que não houvesse pensamentos, mas sim que eu não estava aprisionado naquele blábláblá, não aprisionado em um discurso. Algo, no ato da analista, abriu as portas do meu corpo para um espaço que eu não conhecia, como um lugar de satisfação e contentamento, que eu também não conhecia, mas que até hoje estou tentando falar dele.
Quando não sabemos como dizer usamos, muitas vezes, um poema, algo que nos ajude. Então recorro agora a uma frase de Jorge Luís Borges no poema “O sul”. Talvez seja uma contingência. É a frase:
Tudo era vasto, mas ao mesmo tempo íntimo e secreto
Posso dizer que vivi, o que deixou em mim marcas profundas, um vazio incorporado, a verificação de que não há relação sexual, mas pode haver uma nova relação com a não relação que consiste em um novo laço com o corpo, em uma espécie de erótica do espaço.
Vou terminar com uma pequena história justamente sobre o espaço:
Shigong pergunta ao jovem monge Xitang Zizhang: você sabe como agarrar o espaço?
O jovem Zhizang diz: “Sim, eu sei”.
Shigong perguntou: “Como você agarra o espaço”?
Zhizang acariciou o ar com sua mão.
Shigong disse. “Você não sabe agarrar o espaço”.
Zhizang perguntou: “Como agarrá-lo, meu irmão mais velho?”
Shigong agarrou o nariz de seu irmão mais novo e puxou. Devemos entender que ele enfiou o dedo na narina do irmão mais novo antes de puxá-lo.
De qualquer forma, Zhizang gritou de dor: “Você está me matando! Você tentou arrancar meu nariz!
Shigong disse: “Agora você pode agarrar o espaço”. [10]
Espero que vocês possam também agarrar alguma coisa do analista, que, como se diz, não sabemos quem é, mas que tem um corpo que envolve um vazio de ninguém.
Nota 1
O elemento original dessa categoria é o termo nulilocidade[11], criado pelo bispo John Wilkens[12], como a qualidade daquilo que não está em lugar nenhum, e citado pela primeira vez por Lacan em seu escrito sobre o conto de Poe, “A carta roubada”, ao se referir à propriedade que teria uma carta que desaparece. Aparece em uma nota de pé de página desse mesmo escrito, quando Lacan se refere a Jorge Luís Borges e seu interesse pelo espaço. Ele ganha uma versão nova no Seminário VI, ao se referir a M. Klein quando pondera que ela desconheceu o espaço intermediário entre as duas portas de seu consultório no tratamento de “Dick”, que Lacan associa à função que tem um espaço vazio entre a aldeia e a mata, o “no man’s land”… E, também, ninguém aparece quando se refere a Ulisses em suas astúcias contra o Ciclope Polifeno – belo nome para o inconsciente, diz Lacan, já que se refere a um ser selvagem fora de qualquer ordenamento simbólico. Ele se refere ao episódio em que Ulisses engana Polifeno para se livrar de ser comido por ele equivocando o nome com o qual era conhecido por suas façanhas, “Odisseu”, dizendo ao Ciclope, servindo-se de um equívoco da língua grega, que se chama “Oudeis”- “Odisseu, Oudeis”, que no grego quer dizer: ninguém. Santo equívoco, diria Batman!
Nota 2
Quer dizer que rectus, a palavra latina (reta?) se equivoca com a retificação, e ainda que ao rhétifie (retificar) ele rectifie (põe na reta), põe na reta certa. Nos levando a uma profusão de equívocos: mestre da retórica, orador, escritor de discursos enfáticos, de frases de efeito. Parece-me que podemos extrair desse equívoco que o analista se faz de reta infinita, ou seja, que atravessa o vazio (do toro) e mantém aberta a alma da não relação sexual[13]. Isto é colocar na reta certa, na direção certa, a direção da não relação sexual. Desde onde podemos sair da realidade emoldurada do fantasma e termos acesso a um pouco mais de real.
Nota 3
Então, quem fala? O curso que tomamos nos trouxe, a partir de minha análise, a pensar que o fantasma falava como, ou do lugar de um samurai, que no sintoma falava o fusca (imagem do objeto nada), desde onde falava do lugar da enunciação. Falou também enquanto imagem um toco silencioso e sozinho no deserto, a fala de um corpo estranho que colocava na base de minha experiência uma pergunta: o que é isso? Desse modo, não se trata tanto mais de saber quem é, ou de onde é, made in samurai, made in fusca, mas sim: o que é isso? Aqui se trata da voz do deserto.
Nota 4
A vociferação não é um enunciado, mas um enunciado está subordinado à matriz binária do enunciado e da enunciação, que formam um par. Miller coloca a vociferação como um terceiro termo depois da proposição e do enunciado. A vociferação supera a divisão entre o enunciado e a enunciação, onde o sujeito fica suspendido, ou dividido, onde uma parte de quem fala resta separada do que foi dito. A vociferação não suspende o sujeito, não se afasta de quem a pronuncia, mesmo que não haja alguém, não se afasta de onde se pronuncia.
Nota 5
A consequência desta nova situação é um enrijecimento identificatório, difícil de manejar na clínica atual; tais discursividades se transformam em uma chave de leitura dura da realidade, sem abertura para interpretação. Creio podermos ver nessas situações uma face da manifestação das neuroses na atualidade, na medida em que a neurose pode ser entendida como a classe de sujeitos “infuráveis”. Cabe ponderar que não se trata de desconsiderar a importância da experiência subjetiva de um sujeito vivida no corpo em um lugar dado, verificamos a importância da experiência no valor que é dado para a experiência do Passe. O questionamento do uso atual do lugar da fala recai, sobretudo, no empobrecimento da subjetivação de traços singulares, e na crença de que tal chave de leitura do mundo seja toda, absoluta e completamente determinista.