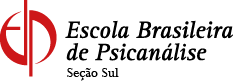Duas locomotivas
Raúl Antelo

Em diálogo com Bianca Tomaselli
“Para haver paradigma é preciso haver a singularidade de um caso apreendido como incomparável. Em seguida, engancham-se vagões a essa locomotiva que parte sozinha, tal como o gato de Kipling”[1].
A definição de paradigma, no Lexicon Technologiae Latinorum Rhetoricae (1778), de Johann Christian Gottlieb Ernesti, é de “inductio oratoria, quae fit exemplis, etiam έπαγωγή dicta et contraria”. A indução é o processo pelo qual se conhece o universal a partir de casos particulares. Mas o paradigma, como sinônimo de exemplum, remete, no entanto, à singularidade. Não se apoia no movimento dialético, mas no analógico. E isto nos permite, ainda que minimamente, um pequeno foco na locomotiva.
Em O amor louco (1937), André Breton lamenta não poder reproduzir uma fotografia de uma locomotiva abandonada na floresta. Mas, pela referência, ela ilustraria, pouco depois, um texto de Benjamin Péret, “La Nature Dévore le Progrès et le Dépasse”, a natureza devora o progresso e o ultrapassa, numa revista dirigida por Breton. Vou me deter, portanto, em duas locomotivas, A estrada de ferro (1873) de Eduard Manet e essa fotografia anônima da revista Minotaure. Quais as relações entre a locomotiva e o tempo? Entre a aceleração e a sensibilidade?
Vejamos a primeira. Manet toma a estrada de ferro como título de sua tela de 1873, mas, radicalizando o gesto de Turner, em Chuva, Vapor e Velocidade. A Grande Ferrovia Ocidental, o que nela vemos, a rigor, é uma mulher ruiva, sentada do lado de fora da grade da estação de Saint-Lazare, o local mais movimentado de Paris, à época. Ela se recorta no meio de nuvens de vapor, exaladas pela locomotiva, quase oculta, e nela logo reconhecemos Victorine Meurent, a modelo ruiva de que também se servira para a Olympia, a tela que deslancha a arte moderna em 1863. Vestido azul marinho, pele muito clara, olhar perdido à nossa frente. À direita, uma criança de costas, olha a estação através das grades. Os olhares dessas duas enigmáticas figuras são antitéticos. Como o Anjo da História de Klee. Verso e reverso, passado e futuro.

Gostaria, ainda, de destacar que a moça que nos contempla tem uma fita preta no pescoço, tal como a Olympia. Michel Leiris dedicou a esse apêndice um belo livro em que nos mostra que Olympia é uma garota simples de seu tempo, como provam o buquê trazido pela criada negra e os enfeites usados – a fina fita preta no pescoço, o laço cor de rosa no cabelo, os brincos, a pulseira e os chinelos –, que a subtraem da dimensão do “nu integral”, tornando-a ainda mais excitante, porque deslocada ou misturada. A ocultação do sexo parece encontrar um substituto em três elementos do quadro: o aspecto atraente do buquê de flores, a cor preta do felino e o ornamento do cabelo, que evoca o sexo invisível. Olympia é um bibelô gracioso, uma garota-boneca sempre disponível[2]. Uma máquina. Locomotiva. E mais um detalhe nada desprezível: a moça da estação de trem e mesmo Olympia, com suas fitas no pescoço, parecem duas figuras acéfalas. São Medusas. Bataille complementara essa leitura ao afirmar que esse quadro é o primeiro quadro moderno porque inova ao abolir o assunto.
Detenho-me agora na segunda imagem. É uma fotografia, anônima, de uma locomotiva coberta pela floresta. Ela ilustra uma matéria do poeta surrealista Benjamin Péret. Transcrevo-a.
“O sol do meio-dia esfola vivos os espectros que não conseguiram se esconder a tempo. Seus ossos virados em violinos dilacerarão os ouvidos dos aventureiros desgarrados nas florestas imitando uma corte de imperador da decadência romana.
Línguas de fogo, clarões de seios, cintilações de azul celeste atravessam a penumbra frutada de vampiros. Mal se pisa no chão. O chão parece um cérebro querendo se dar ares de esponja.
O silêncio pesa nos ouvidos como uma pepita de ouro na mão, mas o ouro é mais mole que uma laranja. Porém, o homem está por ali. Abriu um corredor em meio ao verde e, ao longo de todo esse corredor, desenrolou um fio telegráfico. Mas logo a floresta se cansou de dedilhar a corda que nunca produzia mais que uma voz de homem, e as plantas, mil plantas mais zelosas, mais ardentes umas que as outras, se apressaram a sufocar essa voz debaixo de seu beijo; depois o silêncio voltou a cair sobre a floresta como um paraquedas salvador.
Ali, mais que em qualquer outra parte, a morte não passa de uma maneira de ser temporária da vida, escondendo um lado de seu prisma para que a luz se concentre, mais brilhante, nas outras faces.
Os crânios de ruminantes abrigam, nas grandes árvores ameaçadas por mil cipós, ninhadas de pássaros que refletem o sol em suas asas, as folhas em sua garganta. E manchas de céu azul palpitam sobre carniças que se metamorfoseiam em amontoados de borboletas.
 A vida luta com todas suas forças, com todas suas horas marcadas, no quadrante da água, por nuvens de mosquitos. A vida ama e mata, acaricia apaixonadamente com mão assassina aquilo que adora. Sementes, germinando como martelos-pilões, pregam implacavelmente ao chão as formigas que as engoliram e a quem decerto devem sua terrível potência de germinação. O sangue chama as flores que soluçam, e as flores matam melhor que uma pistola. Matam a pistola.
A vida luta com todas suas forças, com todas suas horas marcadas, no quadrante da água, por nuvens de mosquitos. A vida ama e mata, acaricia apaixonadamente com mão assassina aquilo que adora. Sementes, germinando como martelos-pilões, pregam implacavelmente ao chão as formigas que as engoliram e a quem decerto devem sua terrível potência de germinação. O sangue chama as flores que soluçam, e as flores matam melhor que uma pistola. Matam a pistola.
Ali onde a gênese ainda não disse sua última palavra, ali onde a terra só se separa da água para engendrar fogo no ar, sobre a terra ou na água, mas, sobretudo, ali onde terra e água, aterradas pelo fogo celeste, fazem amor noite e dia, na América equatorial o fuzil desaninha o pássaro, mas não o mata, e a cobra esmaga o fuzil como um coelho.
A floresta recuou diante do machado e da dinamite, mas entre duas passagens de trem se lançou sobre a via férrea dirigindo ao maquinista gestos provocativos e olhadelas sedutoras. Uma vez, duas, ele resistirá à tentação que o perseguirá ao longo de todo percurso, de uma travessa verdejante a um sinal dissimulado por um enxame de abelhas, mas um dia ouvirá o chamado da feiticeira que terá o olhar de uma mulher amada. A máquina se deterá para um enlace que queria passageiro, mas que se prolongará ao infinito, ao sabor do desejo perpetuamente renovado da sedutora. Embora muda, a sereia sabe como ninguém arrastar irremediavelmente sua vítima para abismos sem retorno.
A partir daí começa a lenta absorção: biela por biela, pino a pino, a locomotiva entra no leito da floresta e, de volúpia em volúpia, submerge, freme, geme como uma leoa no cio. Fumega orquídeas, sua caldeira abriga os jogos de crocodilos saídos dos ovos na véspera, enquanto no apito moram legiões de colibris que lhe dão uma vida quimérica e provisória pois muito em breve a flama da floresta, após ter demoradamente lambido sua presa, a engolirá como uma ostra.
Ao longe, lentos arranha-céus de árvores se edificarão para significar um desafio impossível de superar[3].
Ora, essa ideia, antropofágica, de que “La Nature Dévore le Progrès et le Dépasse », nos apresenta o fracasso de uma locomotiva entendida como motor de uma concepção de tempo linear e ascendente. Alguns filósofos do período já questionavam essa unidirecionalidade histórica, mostrando os movimentos desencontrados, quando não paradoxais, do moderno. Assim, Walter Benjamin, por exemplo, publica, no Frankfurter Zeitung, na Alemanha, em 1931, “O caráter destrutivo”, onde lemos axiomas como estes:
O carácter destrutivo só conhece um lema: criar espaço; apenas uma atividade: despejar. A sua necessidade de ar fresco e espaço livre é mais forte que todo ódio. (…)
O caráter destrutivo não idealiza imagens. Tem pouca necessidade delas, e esta seria a mais insignificante: saber o que vai substituir a coisa destruída. Para começar, no mínimo por um instante: o espaço vazio, o lugar onde se achava o objeto, onde vivia a vítima. Com certeza haverá alguém que precise dele sem ocupá-lo. (…)
O caráter destrutivo não vê nada de duradouro. Mas eis precisamente porque vê caminhos por toda parte. Onde outros esbarram em muros e montanhas, também aí ele vê um caminho. Já que o vê por toda parte, tem de destruí-lo também por toda parte. Nem sempre com brutalidade, às vezes com refinamento. Já que vê caminhos por toda parte, está sempre na encruzilhada. Nenhum momento é capaz de saber o que o próximo traz. O que existe ele converte em ruínas. Não por causa das ruínas, mas por causa do caminho que passa através delas[4].
Mais ainda. Benjamin afirma (Tese XV de seu escrito derradeiro, “Teses sobre o conceito de história”) que a verdadeira revolução não será a da ação heroica, mas a da inação, através do freio de emergência que interrompe a locomotiva no seu curso catastrófico: a consciência de fazer explodir o continuum da história é própria das classes revolucionárias, no momento da ação. Ora, o desejo tem como suporte o fantasma. Esse objeto subjetivo coordena o desejo e, por assim dizer, fixa o sujeito a ele. E, por estar sempre desde já perdido, ele não é bem objeto do desejo, mas sempre objeto causa do desejo. Daí ser o real impossível.
Mas, permitam-me, para concluir, voltar ao texto de Péret. Abre-se com uma referência explícita ao “demônio do meio dia”, a hora da sombra pontual, uma ideia de Roger Caillois, alguém muito próximo de Lacan: “le soleil de midi écorche vif les spectres qui n´ont pas su se cacher à temps”, ou seja, o sol do meio-dia dilacera vivos os espectros que não conseguiram se esconder a tempo. Ora, essa fraternidade dilacerante entre opostos, luz e sombra, como as duas figuras informes de L´impossible, a escultura de Maria Martins, perturba, portanto, a contemplação equidistante e autônoma, desuniversaliza, em suma, o que foi pensado para todos e se apresenta, no entanto, como aquilo que é próprio de cada um: o singular.
Dois anos depois de Manet, Walt Whitman dedica um poema à locomotiva, « To a locomotive in winter » (1876), e a chama “Type of the modern—emblem of motion and power—pulse of the continent”. Força, dinamismo, algo que rasga o tempo. É assim que se pensou também a obra de arte moderna. Lembremos o manifesto da poesia pau brasil (mar. 1924), de Oswald de Andrade: “Uma sugestão de Blaise Cendrars: – Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estais. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino”.
O primeiro atributo dessa ação seria a inovação. O segundo, definido por seus leitores e receptores, é a unicidade dessa obra, seu caráter incomparável. Não há outra como ela. Esse caráter único é o que podemos chamar de singularidade, um atributo que se correlaciona com outros, tais como alteridade ou heterogeneidade. Portanto, a singularidade nunca é pura; ela é constitutivamente impura, fruto de contágio, intercâmbio, acidentes, reinterpretações, desvios, re-contextualizações. Baste pensar no desejo de Breton e no texto de Péret, hoje reinterpretados por uma fotografia digital de Isabel Skinner.
A singularidade não é objeto de imitação, pois desconhece a semelhança. Não se lhe aplica a mimese, regra de ouro para medir a arte, dos gregos até o século XX. Ela é, ao contrário, completamente imitável, pelo simples fato de ser paradigmática, isto é, exemplar. A singularidade não se confunde com autonomia, particularidade, identidade, contingência ou especificidade. E, finalmente, diria que a singularidade não é um atributo, ou seja, uma essência, uma forma, mas um ato, algo que se performa, donde a questão do ato, de escolha de linguagem, é inseparável da sua recepção e de sua avaliação. A locomotiva está situada. Logos motiva.