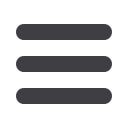

5
contraponto à
sciencia sexualis
, predominante no mundo ocidental. 2 No que tange à
ars erótica
, o prazer é
concebido como uma arte e, como explica Octavio Paz – que também incursionou no estudo das diferenças
entre as concepções ocidentais e orientais de corporalidade –, “não há a mais leve preocupação com a saúde,
exceto como condição do prazer, nem com a família, nem com a imortalidade”. Em resumo, o prazer
aparece como uma ramificação da estética. 3
O livro de cabeceira, assim, pode ser tomado como um livro que dá prazer e inicia o leitor/leitora nas
artes e deleites do amor. E por isso mesmo, é para ser lido na cama.
Foi com vistas a explorar todos esses sentidos do “livro de cabeceira” que o cineasta britânico Peter
Greenaway compôs
The pillow book
(1995), tomando como ponto de partida e principal referência literária
o diário da escritora japonesa. No filme, o cineasta promove uma fusão entre livro, filme e corpo, associando
página, tela e pele. Essas articulações funcionam como o suporte de uma narrativa ao mesmo tempo
contínua e descontínua, visual e textual, erótica e escatológica, na qual também se imbricam gêneros sexuais
e textuais, culturas do Oriente e do Ocidente, línguas, registros de escrita e de imagem, tempos, espaços e
tradições distintas.
A trama do filme, ao contrário do que se pensa, não foi extraída nem adaptada do livro de Shonagon
(que é um livro sem enredo), mas criada pelo próprio Greenaway. Ela se resume na história de uma japonesa
de Kyoto, Nagiko, que quando criança tinha, a cada aniversário, o rosto caligrafado pelo pai escritor, num
ritual de celebração que marcaria toda a sua história de vida. Na idade adulta, vivendo em Hong Kong,
Nagiko começa a buscar amantes que escrevam no seu corpo, de forma a reeditar a cena escritural paterna.
Mas após o encontro com Jerome, um tradutor inglês bissexual, que a desafia (ou incita) a assumir ela mesma
o papel de escritora, a moça passa a escrever livros em corpos de outros homens, de idades e compleições
físicas variadas, enviando-os a um velho editor com quem Jerome mantinha uma ligação amorosa. Por
coincidência, o mesmo editor que explorara o pai da protagonista nos tempos remotos de Kyoto. Depois
que Jerome morre e tem o corpo escrito por Nagiko, o editor, enciumado, manda desenterrar o cadáver do
rapaz, arranca-lhe, cirurgicamente, a pele caligrafada e a transforma literalmente em um livro.
O livro-diário de Sei Shonagon tem uma presença incisiva ao longo de todo o filme, por figurar tanto
como uma fonte provedora de imagens e palavras para a composição da trama, quanto como uma espécie
de personagem, dotado de concretude física e convertido em objeto de culto (o seu único livro de cabeceira)
por parte da protagonista. O livro medieval, assim, é trazido por Greenaway à flor da tela, potencializado
por sucessivas sobreposições de imagens e textos. Os ideogramas da escrita oriental aparecem na tela como
metáforas vivas do corpo. E dialogam, de forma produtiva, com diferentes tipos de textos que proliferam ao
longo da película, e que vão de passagens bíblicas em inglês e latim a letreiros luminosos de lojas e livrarias,
títulos de livros e grafites. Para não mencionar o uso estratégico das legendas em inglês correspondentes às
falas e escritas estrangeiras do filme, que acabam adquirindo também, pela força da caligrafia, uma função
poética enquanto texto inscrito/traduzido nas margens da tela. Inscrições em japonês, francês, italiano,
inglês, chinês, com caracteres kanji, hiragana e katakana, letras góticas e fontes exóticas também cobrem as
peles dos personagens e a superfície da tela, num jogo babélico de impressionante força sinestésica.
Dessa forma, o filme se converte também num livro múltiplo e heterogêneo, antigo e atual, oriental
e ocidental ao mesmo tempo. A ideia de “livro de cabeceira”, assim, também se pluraliza, fazendo jus à
singularidade multíplice da expressão.
2
Segundo Foucault, a China, o Japão e a Índia dotaram-se de uma
ars erótica
, em que “a verdade é extraída
do próprio prazer, encarado como uma prática e recolhido como experiência”. Já a nossa civilização, segundo ele,
“pelo menos, à primeira vista, não possui ars erótica”. “Em compensação”, completa, “é a única, sem dúvida, a
praticar uma scientia sexualis”. Cf. FOUCAULT.
História da sexualidade 1
, p. 57.
3
PAZ.
Conjunções e disjunções
, p. 98-99.


















