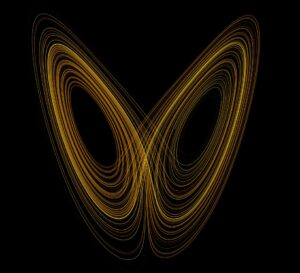Quantas línguas há na nossa língua mãe? Além daquela do pai, da norma culta; e a da mãe, de ternuras ancestrais, há ainda, muitas mais, muito mais no cristal da língua, nesse mosaico em constante mudança que nos constitui. Nele, cabem até mesmo os brados raivosos dos paranoicos no poder. Boas mesmo são as línguas que trazem fragmentos de um passado perdido, de indefiníveis certezas. Somos transportados a uma zona da memória impossível de localizar. São elas que habitam a tendência irresistível para alguns de fazer, de uma flor, fulô e para outros, para quem flor é flor, ainda assim de bater com o pé no chão quando ouvem “pisa na fulô, pisa na fulô…”
Que memória é essa? A mesma que Proust nos leva a sentir, mesmo não tendo ideia do que seja uma Madeleine. Basta mergulhar nossos fragmentos sonoros no caldeirão da língua quando dizemos, meu dengo, meu araçá.
Para Freud, a memória não tem fim. Melhor, não tem limites. A ideia de um estoque finito, como pensa a neurologia, mostra seu caráter de ilusão quando a mesma ciência não cessa de destacar como as conexões neuronais são incontáveis por se fazerem e refazerem sem cessar. Freud não se interessa pelo arquivo morto. Que nossa biblioteca de memórias seja enorme, de acordo. Mas o que conta, o que desperta e faz sonhar são as memórias do esquecido. Valem as que não se encaixam no verbo da cidade, andarilhas errantes, mais neuras que neuros.
Para tudo que não coube na língua pública e nem na privada, mas apenas ficou como ressonância, ritmo, cor, Lacan inventa um nome, fazendo cantarolar sua langue com o termo lalangue. Na nossa língua um tanto dessa vibração se vai, mas que seja, digamos em português lalíngua. É com ela que em última essência lida o psicanalista ao fazer os fragmentos de história fora da história de cada um falar.
Quanto de alfabestização é preciso para que falemos em bom português, valorizando os encontros consonantais em chiados e erres prolongados? Quanto se encolhem nossas vogais quando dizemos “dentro de mim” em vez de “dendimim”? “Muito prazer” em vez de “ôba!” e assim por diante?
Nessa distância entre lalíngua e a língua oficial brotam dialetos. Vivi um deles por anos, o dialeto médico, com seu jargão entre radicais gregos e latinos, tendo um termo para qualquer evento a fim de evitar que o paciente saiba que dele falam como de uma coisa. De “hanseníase” para lepra ou do atual “cuidados paliativos” para fim de linha, o jargão médico sempre me deu a impressão de um modo pretensioso de esconder a morte ao preço de uma mortificação da linguagem.
Esse número do Radar do analista cidadão busca o encontro com outro dialeto, quase o avesso daquele do médico, o pajubá. É o dialeto dos trans e de sua rua, reinjetando lalíngua na língua oficial, sexualizando a linguagem e falando a seu modo da vida e da morte.
A ideia partiu de Maricia Ciscato, mais especificamente de seu encontro com as falas de Amara Moira que é, ela própria, ponto de encontro entre o pajubá a experiência trans da rua, prostituta que é ao reverberar na ponta de sua língua, tanto o pajubá das ruas quanto, em sua tese de doutorado, as onomatopeias de Joyce.
Conversando com Maricia e com Veridiana Marucio, vimos como podemos aprender com o pajubá um modo de articular passado, presente, interdito e dito e, talvez, alguma coisa do que ocorre em nossa clínica se ilumine por ele. Basta que se ouça Amara em pajubá para que sejamos transportados a essa periferia da língua em que localizamos nosso trabalho e onde ecoam os terreiros, talvez de modo próximo e distinto daquilo que Lélia Gonzalez chama de pretuguês.
Além do dialeto médico, tenho vivido há um bom tempo no lacaniano. A trama de palavras pacientemente tecida por Lacan ao longo dos anos para nos levar o mais próximo do calor dos acontecimentos, pegou muita friagem no caminho ao vir para nossas terras, não apenas perdeu sabor, mas ganhou uma ossatura que mimetiza demais a do francês, nos levando a dizer coisas estranhas como “da ordem de…”, ou “objeto pequeno a” com a maior naturalidade. Meus votos são os de que esse Radar abra os ouvidos dos que usam os termos de Lacan como usavam os médicos de meu passado, para a força e virulência que tinham em seu tempo, como os termos do pajubá têm, hoje, no nosso.
Continue lendo “Pajubá e a Fulô de Lalíngua”



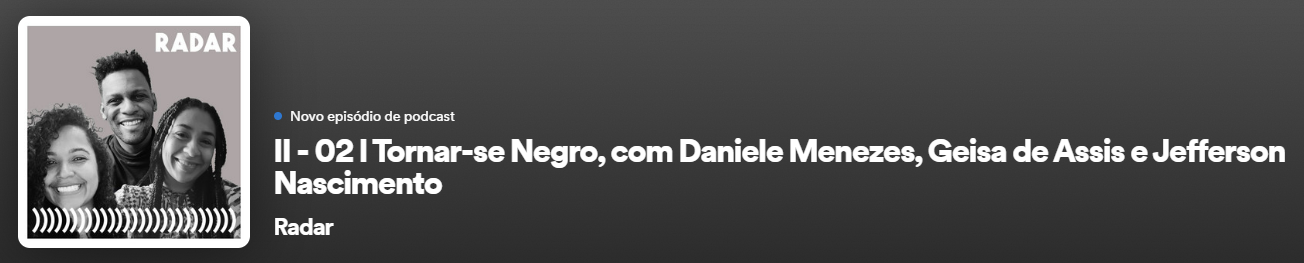
 Do que acontece na cidade, muita coisa concerne aos psicanalistas. Mais ainda em um tempo e em um lugar como os nossos, que caminham tantas vezes em direção ao pior. O que Freud aprendeu e ensinou sobre a subjetividade vale igualmente para o esforço conceitual da psicanálise: as alteridades mais relevantes são, na verdade, internas.
Do que acontece na cidade, muita coisa concerne aos psicanalistas. Mais ainda em um tempo e em um lugar como os nossos, que caminham tantas vezes em direção ao pior. O que Freud aprendeu e ensinou sobre a subjetividade vale igualmente para o esforço conceitual da psicanálise: as alteridades mais relevantes são, na verdade, internas.