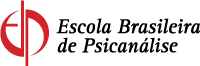Entrevista com Boaventura de Sousa Santos, por Cleyton Andrade
Temos o prazer de receber para o segundo número do Boletim DOBRADIÇA o professor Boaventura de Sousa Santos. Agradeço em nome da Diretoria de Cartéis e Intercâmbios a oportunidade desta conversa. Mesmo não sendo necessária uma apresentação, quero salientar alguns pontos da trajetória de nosso convidado. Sua tese de doutorado, resultado de um trabalho de campo em uma comunidade do Rio de Janeiro, resultou no livro Direito dos oprimidos, que se tornou uma referência na sociologia do Direito. Foi um dos fundadores da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tendo criado também o curso de Sociologia, nesta universidade. Seus livros são traduzidos em diversos países e seu nome é referência obrigatória quando se trata de temas como globalização, sociologia do Direito, epistemologia, democracia e direitos humanos. Cito ainda alguns de seus conceitos mais importantes, que provavelmente aparecerão ao longo desta nossa conversa: sociologia das emergências, ecologia dos saberes, linha abissal, pensamento pós-abissal, epistemicídio, razão indolente, razão metonímica, interlegalidade, epistemologias do sul, dentre outros. Quero também agradecer à Dafne Ashton que muito contribuiu para a concretização desta entrevista. Seja bem vindo à Escola Brasileira de Psicanálise professor Boaventura de Sousa Santos.
1) Cleyton Andrade: O senhor faz uma trajetória difícil de ser resumida em poucas palavras. Vai desde o direito dos oprimidos, passando pela justiça racial, uma crítica ao império cognitivo, para me referir a apenas alguns pontos fundamentais. O senhor poderia nos dizer um pouco sobre o que constitui as epistemologias do sul?
Boaventura de Sousa Santos: As Epistemologias do Sul são uma proposta epistemológica que pretende identificar, validar os conhecimentos nascidos nas lutas, nas lutas sociais contra a opressão que, na época moderna, foram fundamentalmente produzidas por três formas de dominação: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. São epistemologias porque procuram validar conhecimentos, conhecimentos outros, que não aqueles que estão validados pelas epistemologias do Norte. Desde o século XVII, as epistemologias do Norte têm vindo a construir a ideia de que o único saber científico é a ciência. Nessa altura, havia dois outros conhecimentos, que rivalizavam com a ciência a hegemonia nas universidades: a filosofia e a teologia. A ciência destronou-os a todos e em boa medida foi um acto progressista. O que acontece é que a ciência, com este triunfo, foi a pouco e pouco adquirindo a ideia de que tinha o monopólio da verdade e do conhecimento e que, portanto, o único conhecimento válido era o conhecimento científico, e esse conhecimento científico, como sabemos, produzido segundo uma certa concepção do ser, da natureza, do próprio conhecimento, uma relação de aparente total separação entre sujeito e objecto, a natureza considerada um ser inerte, o conhecimento como descoberta, em princípio individual, não uma construção colectiva. Com o tempo esse monopólio foi-se consolidando e em transformaram em opiniões sem valor todos os outros conhecimentos – conhecimentos tradicionais, vernáculos, populares –, que sempre existiram, e continuam a existir, e não é apenas nas longínquas comunidades indígenas ou quilombolas, mas também nas cidades, nas favelas, nos bairros, onde as pessoas governam a sua vida, dão sentido à sua vida, através de conhecimentos que não são necessariamente conhecimentos científicos. As epistemologias do Norte criaram, assim, o monopólio da ciência, o monopólio do conhecimento verdadeiro. Durante o meu trabalho epistemológico, ao longo de muitos anos, comecei por fazer uma crítica interna à ciência a partir de um pequeno livro, que teve muitas edições, publicado em 1987, chamado “Um discurso sobre as ciências” (também publicado no Brasil pela Editora Cortez), em que tentava mostrar que a ciência era uma actividade plural, que nunca atingia a verdade, mas que buscava essa verdade, procurava-a sem nunca a atingir, e que essa busca tinha complexidades que não cabiam muito facilmente nesta separação entre sujeito e objecto, na separação entre ciência, arte e cultura, entre ciências naturais e ciências sociais ou humanas. Portanto, chamei a isso uma crítica interna da ciência, e procurei fundamentalmente legitimar, contra os positivistas, o pluralismo interno da ciência que as epistemologias feministas tornaram depois muito popular, na medida em que as mulheres, epistemólogas, mostraram como a ciência tinha sido, durante muito tempo, sexista, misógina, não apenas nas suas aplicações, mas nas suas concepções e teorias, no modo de conceber o próprio conhecimento e de o construir.
No entanto, a partir de certa altura, dei-me conta de que essa crítica interna não chegava. Era preciso fazer uma crítica externa, na medida em que era preciso reconhecer a existência de outros conhecimentos não científicos, que poderiam eventualmente dialogar com a ciência, e que tinham os seus próprios critérios de validade. Conhecimentos muitas vezes orais, colectivos, anónimos, das comunidades, os saberes a que também chamamos sabedoria. As epistemologias do Sul nascem dessa necessidade de criticar o monopólio epistemológico da ciência como conhecimento rigoroso. Nada disto é contra a ciência, a ciência é um conhecimento válido, que procura ser rigoroso, mas não é o único conhecimento válido. E a ciência contribui tanto mais para o progresso das sociedades quanto mais reconhecer que há outros conhecimentos ao lado da ciência, com outros critérios de validade e outras concepções de vida, de felicidade, da natureza, outras relações entre o indivíduo e a comunidade, modos de conhecimentos para quem a comunidade está primeiro que o indivíduo e não o indivíduo primeiro que a comunidade ou a sociedade, que não concebem a natureza como algo inerte e separado da vida humana para os quais a natureza não nos pertence nós é que pertencemos à natureza, conhecimentos que devem ser valorizados e eventualmente podem inclusivamente entrar em diálogo com a ciência, os diálogos a que eu chamo ecologia de saberes (ver, por ultimo, O Fim do Império Cognitivo, publicado pela Autêntica 2019), processos de enriquecimento recíproco, quando diferentes conhecimentos se põem em contacto, em diálogo, dispostos a reconhecerem os seus limites e a reconhecerem a validade de outros conhecimentos para outros objectivos que não aqueles que são próprios de um dado sistema de conhecimento.
Chamam-se epistemologias do Sul porque o sul não é um sul geográfico, o sul geográfico é tão dominado pelas epistemologias do norte quanto o Norte e, por vezes, mais. Basta analisar o que se ensina e aprende nas universidades de matriz eurocentrica. O Sul para mim é epistémico, é exactamente o conjunto dos conhecimentos nascidos na luta, nas lutas anticapitalistas, anticolonialistas e antipatriarcais, lutas das mulheres, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos colonizados, dos trabalhadores, que ao lutarem sempre usaram e produziram conhecimentos e esses conhecimentos nunca foram reconhecidos como tal. Portanto, é uma tentativa de captar esse processo de conhecimento que nasce na própria luta e no viver na luta contra a opressão.
A minha primeira experiência das epistemologias do Sul foi numa altura em que ainda não falava sequer disso, não usava o termo, quando vivi durante uns meses, em 1970, numa favela do Rio de Janeiro, no Jacarezinho, e vi como pessoas, analfabetas, pessoas que viviam na miséria, que eram consideradas bandidos ou delinquentes pela classe média alta de Copacabana e do Leblon, tinham uma extraordinária sabedoria da vida, um profundo conhecimento da sociedade brasileira e até da política, que na altura era a ditadura e que só com base numa relação de confiança era possível discutir. E eu tive a sorte, a felicidade, de poder criar essa relação de confiança. Eram conhecimentos da vida quotidiana, em comunidades que eram grandes, 60 mil habitantes, na altura (a cidade de onde vinha, Coimbra, em Portugal, tinha exactamente 60 mil habitantes), mas onde não chegava a ciência, nem a medicina, nem os tribunais, porque eram comunidades ditas ilegais e, no entanto, tinham as suas formas de direito, que não era o crime organizado, como hoje se pensa, pelo contrário, eram associações de moradores, que criavam ordem, digamos assim, dentro das comunidades, com regras de convivência, que eram acatadas por todos. Não era um direito oficial, era um outro direito. Chamei a isso pluralismo jurídico. Ora isso é hoje também pluralismo de conhecimentos, e as epistemologias do Sul reivindicam o direito à validade desses conhecimentos. As epistemologias do Sul são, de alguma maneira, uma novidade na medida em que nós tivemos até agora dois grandes modelos de relação entre o conhecimento e as lutas sociais. O das epistemologias do Norte, convencionais, dominantes, burguesas de origem, que tiveram em Hegel a sua melhor formulação, o modelo do conhecimento que nasce ou surge sempre depois das lutas sociais. Como dizia o Hegel, é ao final da tarde que a coruja da deusa Minerva (na antiguidade romana, ou Atena, na antiguidade grega) levanta as asas e voa, quando a poeira caiu, ou seja, quando a luta já terminou. O problema é que quando a luta termina o conhecimento que resta é o conhecimento dos vencedores, e as universidades sempre ensinaram o conhecimento dos vencedores da história. Onde está o conhecimento dos vencidos?
Um outro modelo foi Marx e o marxismo, o conhecimento antes da luta. Marx procurou criar uma teoria que capacitasse os trabalhadores para lutarem por uma outra sociedade que servisse os seus interesses, os interesses da grande maioria da população. Era uma teoria de vanguarda, criada antes da luta para permitir a luta. Tem o seu mérito, obviamente, eu próprio tive uma formação marxista e continuo a ser marxista a muitos níveis da minha construção teórica no plano sociológico, mas a verdade é que foi um conhecimento que também falhou muitas vezes, precisamente por ter sido construído antes das lutas, lutas que depois não corresponderam de maneira nenhuma ao que a teoria previa.
As epistemologias do Sul são a reivindicação da ideia dos conhecimentos nascidos na luta e enquanto se luta.
2) Cleyton Andrade: Uma teoria do sujeito em Lacan, entendido como sujeito da ciência, tem como marco fundamental a Ciência Moderna, e o cógito cartesiano. Uma teoria do sujeito construída pelas epistemologias do sul teria algum marcador fundamental? Por exemplo, quando se fala da Índia colonizada, geralmente a discussão é sobre a colonização inglesa, e não a colonização dos arianos na mesma Índia. Imagino que deva haver aí algum marcador, que ocuparia um lugar semelhante ao da Ciência Moderna para a teoria do sujeito em Lacan. É possível pensar algo neste sentido?
Boaventura de Sousa Santos: Tenho muita dificuldade em fazer comparações nestes termos, na medida em que aquilo que se pretende saber parte já de uma concepção que estabelece os termos da relação de comparação. Ou seja, o conceito sujeito em Lacan, o seu marcador, e obviamente a possibilidade de haver outros conceitos de sujeito com outros marcadores e de alguma maneira são alternativas. As alternativas são sempre, de alguma maneira, não digo inferiores, mas são derivadas, na medida em que partem de uma norma da qual discordam, à qual desobedecem, e nessa medida são alternativas. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, em África, que a medicina tradicional é alternativa à biomedicina, à medicina moderna, biomédica. Mas dizer que a medicina tradicional é alternativa é não reconhecer, por exemplo, que mais de 70% ou 80% da população africana só tem acesso à medicina tradicional e, portanto, se a pergunta fosse feita a partir da medicina tradicional, talvez fizesse mais sentido dizer que em África a medicina alternativa é a biomedicina.
Dito isto, eu penso que as epistemologias do Sul têm uma ontologia, ou várias ontologias, ou famílias de ontologias, que as suportam e, portanto, não são apenas teorias de saber, mas teorias do ser. E essa ontologia põe de imediato em questão a ideia do sujeito, sujeito cartesiano, nomeadamente, mas até do sujeito espinosista também, que é diametralmente oposto. Porque se eu quisesse simplificar eu diria que o sujeito que marca as epistemologias do Sul é o ubuntu. É a ontologia da África Austral que nas suas diferentes formulações afirma que eu sou porque tu és. Ou seja, não existe o sujeito individual, enquanto tal, porque o ser é sempre um ser-com. Mas também não é a negatividade do ego em Lacan (moi que depois distinguirá do sujet, o sujeito psicanalítico), um objecto armadilhado na fase do espelho. É antes uma comunidade concreta, não amorfa nem inerte, de sujeitos que são ininteligíveis se apreendidos individualmente. O conceito de parente dos povos indígenas brasileiros é semelhante ao de ubuntu. É evidente que na filosofia e na epistemologia ocidentais vários autores, nomeadamente Heidegger, que aliás influenciou o Lacan, o ser tem vários níveis de entendimento (do dasein ao selbstsein em alemão), e entre eles a ideia do ser-com, o conceito de Mitsein, o ser-com. Mas é um ser com um outro, o mesmo que em Martin Buber, o Ich und Du, eu e tu. É uma relação dialógica, (mesmo se o diálogo é uma linguagem, langage, do inconsciente) como também mais tarde em Levinas. O ubuntu também não é o inconsciente colectivo de Carl Jung. É algo bem mais concreto e bem menos infernal.
Ubuntu é diferente porque é o ser-com, não é apenas o ser com outros indivíduos, é o ser com uma comunidade concreta que transcende os indivíduos e, portanto, invoca uma relação dialéctica muito mais complexa entre a sociedade e o indivíduo porque o conceito de indivíduo em si mesmo, ou de sujeito, digamos assim, é quase impossível, muito menos o sujeito cartesiano, que é um sujeito cuja identidade se afirma na medida em que ele se separa da natureza. Isto aparece muito claramente em toda a teoria crítica do ocidente, nomeadamente em Theodor Adorno, Max Horkheimer, para quem o humano se emancipa na medida em que se separa da animalidade da natureza. No ubuntu o humano reconhece-se como parte da natureza, da qual não pode fugir nem sair, porque seria suicídio, porque não é a natureza que lhe pertence, mas é ele ou ela que pertence à natureza. Portanto, há uma ontologia compartilhada, uma subjectividade compartilhada e muito mais complexa do que aquela que é pressuposta pelas epistemologias do Norte e pelas ontologias do Norte, convencionais. Lembro, por exemplo, um grande filósofo africano, ganiano, Kwasi Wiredu, que escreveu que na sua língua, o akan, a sua língua natal – ele que era doutorado por uma das grandes universidades europeias (Oxford) em filosofia, professor de filosofia que leccionou em várias partes do mundo – não podia traduzir o princípio cartesiano fundamental, Penso, logo existo. Porque a palavra que designa o indivíduo isolado que pensa não existe em akan: eu sou aqui, eu sou desta comunidade, eu pertenço a esta família, eu pertenço a este clã. E tal como não há um ser abstracto, não há um pensar abstracto. Em akan pensar é sempre pensar isto ou aquilo em função das actividades quotidianas, do seu dia a dia. Portanto, não há um pensar, há o pensar aqui, pensar a comida, pensar a agricultura, pensar o futuro, pensar o passado. É sempre contextualizado.
Penso que as epistemologias do Sul apontam para uma outra ontologia e que implicaria também outros tipos de psicologia, de psiquiatria, até de psicanálise, não tenho dúvidas. Hoje obviamente estão estudados por muitos, muito mais competentes do que eu, os pressupostos eurocêntricos da teoria do ser em Freud e também em Lacan. São extremamente eurocêntricos e nortecêntricos. Não digo que sejam inválidas as suas teorias, são locais. O problema é que se converteram em teorias universais quando de facto são teorias etno-teorias, são teorias que respondem a um contexto específico do pensamento eurocêntrico. E, portanto, também não podem de alguma maneira aplicar-se da mesma forma noutros contextos, onde outras culturas pressupõem outras ontologias. Lembro aqui um texto famoso de um psiquiatra famoso, Franz Fanon, que não é muito conhecido como tal, mas que logo no início dos anos 60 escreveu um artigo sobre as suas experiências como psiquiatra para mostrar que as depressões, os sintomas de mal estar mental dos seus doentes – que eram muitas vezes magrebinos, imigrantes em França – não eram enfermidades ou mal estar que pudessem ser resolvidos a nível individual, porque aquelas pessoas carregavam consigo dores colectivas, mal-estares colectivos, que era a dominação colonial. E era essa dominação colonial que estava presente nos seus corpos, nas suas mentes, e ele, como psiquiatra, tinha que os tratar como indivíduos, quando o problema era um problema colectivo, era o problema da dominação colonialista. São outras concepções e seria interessante haver um diálogo entre elas.
3) Cleyton Andrade: O senhor costuma dizer que não é um intelectual de vanguarda, mas de retaguarda. Existe alguma relação, ou qual seria ela, da atuação de um intelectual de retaguarda com as experiências de corporização do conhecimento? Ou seja, qual a posição ou função, do intelectual de retaguarda frente às três experiências de corporificação – do corpo moribundo, do corpo sofredor e do corpo jubiloso?
Boaventura de Sousa Santos: Sim, tenho vindo a afirmar que sou um intelectual de retaguarda por oposição à posição dominante na cultura ocidental de que o intelectual de vanguarda, que produz conhecimento de vanguarda. Vanguarda significa ir na frente, na frente da experiência para a poder orientar. Penso que o conhecimento científico e filosófico, em geral, no mundo eurocêntrico, é um conhecimento que pretende ir na frente e orientar as massas da população que não têm acesso a esse conhecimento. Acontece que, sobretudo ao longo do século XX, tivemos muitas teorias de vanguarda e que falharam na sua concretização. O que é específico nas teorias de vanguarda é que quando falham a culpa não é da teoria, é da prática. E, portanto, os intelectuais que defenderam essas teorias continuaram todo o seu trabalho e a sua reputação sem a teoria ter sido considerada falsificada, porque, de alguma maneira, é sempre uma falsificação muito parcial, porque a culpa não é da teoria, mas da prática que não aplicou a teoria bem.
Eu, pelo contrário, tenho defendido que isto é um dos problemas que aflige o mundo hoje, essa separação entre o conhecimento, as universidades, a ciência e a sociedade. De tal modo que isto se reflecte também politicamente na medida em que as organizações políticas – porque subsidiárias da mesma ideia das teorias de vanguarda – também perdem o contacto com as populações, deixam de poder relacionar-se com elas porque não vivem com elas, não as conhecem, não vivem nas periferias, não vivem nas favelas, e continuam a imaginar acerca dessa sociedade e dessas comunidades teorias que não correspondem de maneira nenhuma nem à vida concreta delas, nem às aspirações que elas têm hoje.
Eu, pelo contrário, penso que nós precisamos é de intelectuais de retaguarda, não daqueles que vão na frente da realidade, mas que vão atrás da realidade, que vão com a realidade e atrás daqueles que na luta social estão a ponto de desistir. Para as epistemologias do Sul o conceito de luta é absolutamente central, o conceito de corpo, o conceito de território, são conceitos fundamentais. Porque é conhecimento nascido na luta e, portanto, o conceito de luta é fundamental para esta teoria. As lutas implicam sempre os corpos. Nenhuma luta se faz apenas com ideias. Faz-se com corpos, com sentimentos, com sentidos, com sangue, com carne. Essa ideia da experiência do corpo é fundamental porque esse corpo também é o território, tal como o corpo das mulheres é o seu território, a identidade e a ontologia indígena também não existe sem identidade territorial. E como dizem os movimentos feministas “o meu corpo é o meu território”, e é por isso que elas entendem bem a reivindicação dos povos indígenas de que a sua identidade não é pensável sem os seus territórios, os territórios ancestrais.
A ideia de retaguarda é uma ideia de acompanhar a luta porque é um saber nascido na luta e quando se vai na luta não é a questão de irmos na frente, porque a frente são os corpos que estão na linha da frente a travar essa luta. Atrás da luta, teorizando a luta enquanto ela ocorre, ajudando, facilitando, aqueles que lutam, animando aqueles que estão a ponto de desistir, caminhando com aqueles que vão mais devagar, através de lógicas de convencimento que não podem assentar em grandes teorias, mas acima de tudo numa relação de conhecimento, de reconhecimento mutuo, de confiança mutua. É por isso que epistemologias do Sul não conhecem sobre, conhecem com. Procuram ser um conhecimento solidário, solidário na luta, e na luta são os corpos que se entregam. Portanto, esses corpos são esses que identifiquei e que tenho identificado, como o corpo moribundo, o corpo sofredor e o corpo jubiloso (ver Fim do Imperio Cognitivo). São os três corpos da luta, a luta que faz sofrer, a luta que faz morrer e a luta que dá a alegria e o júbilo da festa, de celebração de uma vitória, por mais rara que seja, por mais parcial que seja.
As teorias de retaguarda são umas teorias que exigem uma experiência profunda dos corpos, individuais-colectivos, e é por isso que os sentidos são tão importantes, muito mais importantes que para as epistemologias do Norte. Se vir bem, nas epistemologias do Norte praticamente existem dois sentidos, é o ver e o ouvir. Mas que ver é esse? É um ver que só vê o visível, não é uma experiência profunda da visão. A experiência profunda da visão é aquela que vê o invisível. A ciência não permite ver o invisível. No entanto, os conhecimentos indígenas, os sábios indígenas, sabem que os os seus antepassados, estão ao lado deles, a guiá-los, a orientá-los, estão presentes, eles vêem o invisível. A ciência não vê o invisível, é uma outra experiência muito mais profunda do sentido do ver. Se quisermos, nas epistemologias do Norte o invisível acede, quando muito, como o inconsciente, mas esse acesso é um privilegio do analista. E o mesmo com o ouvir. A ciência eurocêntrica ouve, mas não escuta. Ouve sempre estrategicamente, a partir daquilo que ela considera ser relevante para os objectivos que tem em mente, seja uma teoria, seja uma terapia. E, portanto, submete tudo de alguma maneira aos critérios de relevância que são os seus. Quem alguma vez fez entrevistas na área da sociologia sabe como é isso e acredito que com os psicólogos, psiquiatras e com os psicanalistas isto possa acontecer muitas vezes. Nuns mais, noutros menos, obviamente. Mas os critérios de relevância são sempre de alguma maneira limitativos, porque pressupõem sempre o conhecimento-sobre e não o conhecimento-com. Este último exige uma dádiva, uma entrega. Não é feito de distância mas de proximidade. Essa escuta profunda que é exactamente o oposto do ouvir. Escutar, é escutar tudo e escutar inclusivamente o silêncio, aquilo que não se diz. Daí que um dos conceitos fundamentais das epistemologias do Sul seja a sociologia das ausências, estudar aquilo que não se vê, que não existe de uma maneira hegemónica porque foi produzido como inexistente. Claro que podemos dizer que encontramos, obviamente, o reprimido como forma exactamente dessa ausência presente, só que ela é vista como algo que perturba o indivíduo. Para mim é fundamentalmente algo que impede a libertação colectiva, que impede o êxito das lutas contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Para as epistemologias do Sul é fundamental que o capitalismo não existe sem colonialismo e sem o patriarcado. E o patriarcado mais amplo que sexismo porque são as diferentes repressões das orientações sexuais. E por isso contesta a ideia de que o colonialismo terminou com as independências. Não. O colonialismo manteve-se sob outra forma. O racismo é colonialismo. A concentração da terra é colonialismo. A expulsão de camponeses e de indígenas para os megaprojectos, sejam barragens, sejam grandes projectos de agricultura industrial, é colonialismo.
E o patriarcado continua, apesar de todas as vitórias do movimento feminista. O feminicídio aumenta porque o capitalismo não existe sem colonialismo nem patriarcado. Aliás, eu explico isso em termos marxistas. É que o trabalho livre, assalariado, que é o específico do capitalismo, não se sustém, não se sustenta socialmente sem o trabalho altamente desvalorizado e sem o trabalho não pago. Ora são os corpos racializados e sexualizados que produzem trabalho altamente desvalorizado e trabalho não pago. Aliás, na teoria crítica marxista inclusivamente, aceita-se que há uma diferença entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Como se o trabalho de cuidado das mulheres fosse reprodutivo e, portanto, sem direito a remuneração. Quando ele é extremamente produtivo, produz a vida, produz a força, produz a vitalidade das pessoas. Há toda uma relação diferente com o corpo. No livro que referi, publicado no Brasil pela Autêntica, analiso, com detalhe, a minha posição em relação a Merleau-Ponty, às suas teorias, à sua fenomenologia, e portanto à importância do corpo. Eu vou, penso, um pouco mais além, porque é um corpo não eurocêntrico aquele que eu procuro, é um corpo que passa por estas experiências que são as experiências da luta contra a dominação. Imagino que as epistemologias do Sul com a articulação do capitalismo com patriarcado e colonialismo, ou seja, com os dois motores da subhumanidade na época moderna (articulação entre epistemologia e ontologia) abrem campos interessantes para a psicologia e psiquiatria. Mas isto é apenas uma intuição.
4) Cleyton Andrade: Vivemos num mundo com fronteiras apesar de globalizado. Fronteiras irredutíveis. O senhor poderia nos dizer como as fronteiras, de instrumentos geopolíticos e de manipulação de sociabilidade, se tornam marcas inscritas como feridas nos corpos?
Boaventura de Sousa Santos: Nós nunca vivemos com tantas fronteiras como vivemos hoje. Essa é a grande contradição ou mentira da actual fase do capitalismo global, colonialista e sexista que nos faz crer que vivemos num mundo sem fronteiras. Na Idade Média, na Europa, por exemplo, era mais fácil viajar entre países e entre regiões. Agora na UE também é fácil mas dentro da fortaleza, UE, claro. Podia ser mais difícil a viagem e, obviamente, levar mais tempo, mas não havia controlo de fronteiras, que só com o Estado moderno se vão criar e paulatinamente porque o Estado fundamentalmente surge como controlo geopolítico num território e, portanto, com a delimitação de fronteiras. Fronteiras que só com o passar do tempo vão poder efectivamente concretizar-se. Ainda hoje, em muitos países e regiões, na América Latina, na África, na Ásia, muitos povos atravessam a fronteira todos os dias. Têm família de um lado e do outro, clãs de um lado e do outro, comércio de um lado e do outro, e nunca se reconheceram obviamente nas fronteiras nacionais. Os povos indígenas da Amazónia são um bom exemplo disso, muitas vezes divididos entre sete países, que não reconhecem porque os seus parentes estão dos dois lados da fronteira e obviamente que não é por estarem do outro lado que são menos parentes. Esse conceito extraordinário do mundo indígena que é o parentesco no sentido amplo e que tenho vindo a tentar transformar e ajudar a transformar num conceito sociológico novo, de articulação, correspondente ao conceito que falei anteriormente, o ubuntu, do ser-com. O conceito de parente é um conceito da relação ampla porque não é apenas consanguinidade, é um conceito mais amplo que tem a ver com a partilha do território. As fronteiras hoje são cada vez mais cruéis, estamos num mundo de muros, electrificação de muros, de oceanos transformados em muros, como é o caso do Mar Mediterrâneo, onde nos últimos anos morreram afogados mais de 20 mil pessoas sem que isso significasse uma crise humanitária ou uma crise política na Europa, porque não eram gente, eram subgente.
Um conceito fundamental das epistemologias do Sul é a linha abissal, que divide a humanidade da deshumanidade, a humanidade da subhumanidade. Precisamente porque o capitalismo não existe sem colonialismo, nem patriarcado, e como o colonialismo e o patriarcado exigem e produzem uma degradação ontológica, são seres inferiores. Obviamente que a linha abissal separa os humanos dos subhumanos. Essa é uma fronteira invisível, mas radicalmente presente na vida das pessoas. A mulher que trabalha num restaurante na cidade vive na sociedade metropolitana onde é considerada uma pessoa humana, tem os seus direitos, aliás, direitos trabalhistas inclusivamente, pode ganhar menos e ser vítima de discriminação, mas há um direito e há normas que podem fazer valer os seus direitos. No entanto, essa mulher, quando sai do emprego e vai para casa, se for na Índia, pode muito bem acontecer que seja vítima de uma violação de grupo, um gang-rap. E em todos os países, chegando a casa, pode ser assassinada pelo seu companheiro. Ou seja, naquele momento ela atravessa a linha abissal e passa para o outro lado da sociabilidade metropolitana, que é o que eu chamo a sociabilidade colonial. Aí a mulher não é verdadeiramente humana, é sub-humana. Tal e qual como aquele jovem que é estudante negro na UERJ e que vai assistir às aulas e participa e é um estudante matriculado e obviamente é plenamente humano, considerado pela sociedade plenamente humana, igual aos outros, pode ter alguma discriminação racial, mas isso será sempre um problema para a própria comunidade universitária na medida em que os estudantes devem ser todos tratados igualmente. No entanto, aquele estudante quando sai da universidade e vai a caminho de a favela ali perto, do Maracanã, onde vive, só porque é negro vai ser abordado– estou a contar, aliás, histórias reais– por um polícia de vinte em vinte minutos que lhe manda abrir a mochila para ver se leva alguma coisa suspeita. Não há nada suspeito, deixam-no andar, vinte minutos depois a caminho da favela volta a ser interpelado pela polícia, com o mesmo objectivo, o mesmo resultado, vinte minutos depois volta a ser … Porque é que é feito isto? Estou a contar uma história verídica. À terceira vez o jovem pergunta à polícia “Porque fazem isto? Já é a terceira vez que vistoriam a minha mochila, não tem nada, tem o meu computador, nada mais”. E o polícia diz: “não há nada pessoal contra si, é que você pertence ao grupo populacional que exige uma atenção policial especial, está no regulamento”. Ou seja, racismo institucional. Portanto, o jovem estava naquele momento a atravessar a linha abissal para a sociabilidade colonial em pleno Rio de Janeiro.
Esta é aquela fronteira invisível, mas depois são as outras. Estas marcam o corpo, ninguém as conhece. Agora imaginem as outras que são as dos imigrantes sem documentos, que não podem ter acesso sequer à saúde, que nos EUA têm de viver clandestinamente. Curiosamente, em Portugal, uma das primeiras medidas durante a pandemia foi que os imigrantes que estavam à espera de regularização, eram indocumentados, fossem regularizados, pelo menos provisoriamente, para poderem ter acesso à saúde e ao tratamento que obviamente a pandemia exigia. Aí felizmente reconheceu-se isso. Mas é um caso, digamos, excepcional.
Portanto, os corpos estão feridos exactamente porque são as memórias dos traumas das fronteiras, que muitas vezes causam a morte. Se virmos hoje o que se passa no norte do México, no sul dos EUA, nesse muro da vergonha, tal e qual como é outro muro da vergonha o que separa Israel da Palestina, são muros que se inscrevem, porque há cerimónias de degradação diárias, muitas vezes contra as pessoas que tentam atravessar mesmo quando é legal atravessar. Há estigmatização na travessia. O caso dos palestinianos que trabalham no lado israelita e que são sujeitos à maior arbitrariedade da polícia todos os dias. São cerimónias de degradação que ferem o corpo. E que se inscrevem nos corpos.
Nós vivemos num mundo de fronteiras, de guetos. Há guetos de luxo (os condomínios fechados) e há guetos das classes empobrecidas. Todos eles são degradantes, todos eles degradam a qualidade humana, são os que separam, criam populações cativas. Há muito cativeiro que não se reconhece como tal. As mulheres vivem em situações de semicativeiro em muitas sociedades e precisamente pela violência doméstica a que estão sujeitas, para não falar, obviamente, dos presos, dos chamados doentes mentais, e de muitas outras situações, para além das dos refugiados e dos imigrantes não documentados. Nunca tivemos uma população tão grande de populações deslocadas dos seus territórios. Essas pessoas têm os corpos inscritos de feridas das travessias, muitas vezes sem sucesso, e vamos ter cada vez mais porque a crise ecológica está a desertificar partes do planeta e as populações têm que imigrar, procuram sair, é o que tem acontecido com algumas populações subsarianas na África, porque as suas terras deixam de ser habitáveis. Vamos ter cada vez mais esse fenómeno e, portanto, os muros vão ser cada vez mais altos, enquanto houver capitalismo, colonialismo e patriarcado.
5) Cleyton Andrade: Para finalizar, gostaria de fazer uma pergunta com um teor mais testemunhal, digamos, ou informal. Como o senhor, um português, de um país da Europa e com uma história de colonizador, se tornou um dos maiores e mais relevantes nomes do pensamento descolonial? ( não fiz aqui a diferenciação entre descolonial, decolonial, pós-colonial, pensamento abissal, etc, pois seria ocupar ainda mais o senhor).
Boaventura de Sousa Santos: Reconheço que, como português, tenho uma responsabilidade histórica e talvez as epistemologias do Sul sejam o testemunho dessa minha própria responsabilidade. Eu tive que me descolonizar, tive que desaprender muito do que aprendi, tive que deixar de ser muito do que era para poder vir a ser outra pessoa, que pudesse ser-com. E hoje estou envolvido em muitas lutas sociais e faço-o com grande solidariedade, e sei que tenho esse privilégio de contar com a confiança porque nos momentos difíceis estive com as comunidades e corri riscos com elas. Não é por escrever livros, mas por estar nas lutas, daí o conceito de luta das epistemologias do Sul.
As identidades não são para mim biológicas, as identidades para mim são identificações. São processos através dos quais nós nos identificámos com uma determinada identidade e da qual também nos podemos desidentificar obviamente. Franz Fanon falava das peles negras e máscaras brancas. É evidente que todos os guetos identitários, em meu entender, são essencialistas, e o essencialismo, no meu entender, não faz muito sentido, precisamente porque a natureza humana, que não existe sem a outra natureza, são formas da natureza compartilhada. E que, portanto, é porosa, é um palimpsesto de experiências, digamos assim. Aceito que, em certas situações, um certo essencialismo identitário seja necessário como uma estratégia de luta num determinado momento. Reconheço que isso pode ser importante. Mas ele deve sempre ser visto como um instrumento e não com um fim em si mesmo, é um meio a que se recorre quando é necessário para levar a cabo uma luta que deve transcender obviamente esse essencialismo. Para mim não é tão importante saber de cor se é, embora seja importante por tudo o que a que sociedade atribui à cor, mas mais importante ainda é saber de que lado se está. E essa é que é a grande questão. Vai ser cada vez mais difícil estar do lado daqueles que são oprimidos pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Porque estar solidário-com vai ser cada vez mais ser co-oprimido. Em vez de solidariedade, partilha.
Os intelectuais certamente vão tentar escapar a essa dificuldade, teorizando, mas não estando nas lutas. Eu tenho dito, como sempre aliás procuro praticar, que dedico 50% do meu tempo à universidade e 50% trabalho com os movimentos sociais. Isto é o mínimo que posso fazer para não me corromper. E por isso talvez até agora se tenha testemunhado nas muitas transmissões ao vivo, nas lives como vocês dizem no Brasil. Das dezenas que fiz ao longo destes meses, eu podia dizer que foi mais ou menos essa a percentagem, entre transmissões para as universidades e transmissões com os movimentos sociais, com lideres das ocupações urbanas, com os povos indígenas, localizações longínquas, seja Tabatinga, São Paulo de Olivença, Manaus, seja o Cauca na Colômbia, Oaxaca no México. Enfim é este o pensamento através do qual eu procuro, com muita vigilância epistemológica e política, ir-me descolonizando e, naturalmente, ter de entender que por vezes o facto de eu ser branco e português faz com que seja muito fácil deslegitimar o meu pensamento ou não lhe atribuir a validade que ele possa ter. Eu tenho que sofrer isso como prova de facto que estou certo no trabalho que realizo e que eu vivo essa experiência porque não mudo a sociedade, colaboro para mudanças da sociedade, certo que ela não muda tão facilmente quanto eu desejaria. A sociedade dominante pensa, não da forma das epistemologias do Sul, mas com as epistemologias do Norte. Daí que eu não me envolva muito nestas questões académicas do que é o descolonial, decolonial. Na sua origem, estes conceitos partiram a ideia de que o colonialismo tinha acabado mas ficara a colonialidade. Ora o que acabou foi uma forma específica de colonialismo ( por ocupação territorial de uma potência estrangeira), mas o colonialismo continuou sob outras formas (do racismo ao roubo de terras). Portanto a palavra mais exacta é descolonizar por que politicamente nós estamos hoje num processo de recolonização. Obviamente que para a língua portuguesa o decolonial em si mesmo é um neologismo infeliz porque temos o descolonial, mas que eu também não distingo do pós-colonial por uma razão simples. É porque quando comecei a trabalhar nesta área, já lá vão muitos anos, o pós-colonial era exactamente a ideia de que o colonialismo não tinha terminado. Havia no conceito de pós-colonial um anacronismo, porque é um pós que se nega a si mesmo na teoria que defende. A teoria pós-colonial é uma teoria que pretende mostrar que o colonialismo não é algo do passado, mas que vive connosco. E para mim, como vive connosco, tem de ser lutado, tem de ser lutado contra, tem de ser descolonizado. Não existe pós-colonial sem descolonial. São dois momentos da mesma realidade. É identificar uma linha abissal e lutar contra ela. Obviamente que qualquer destes conceitos – descolonial, decolonial, pós-colonial –, se vir bem, são conceitos negativos, isto é, eles identificam algo por aquilo que não é. O descolonial é o descolonizar, é o desfazer algo. O pós-colonial refere-se a uma realidade que seja pós-colonial mas que, no entanto, não existe ainda. As epistemologias do Sul – e é por isso apenas que prefiro este termo e este conceito e trabalho com ele – são positivas, não se afirmam pela negativa, é a reivindicação da validade dos conhecimentos nascidos na luta. É a partir da positividade desses conhecimentos, não é uma positividade abstracta, é concreta, é pelo contributo que dão para uma luta. E uma teoria que pode trabalhar muito bem, ser revolucionária numa luta, pode ser contrarrevolucionária para outra luta noutro contexto, noutro país, e nem servir para a mesma luta noutro periodo.
Não há universalismos abstractos neste pensamento. É um pensamento pós-abissal, se quiser, mas precisamente porque tem essa dicotomia, abissal/pós-abissal. As epistemologias do Sul envolvem ambos, é a construção do pós-abissal, do que é que será isso que vem depois. Eu penso que temos muitas teorias de crítica do eurocentrismo. O eurocentrismo já não tem legitimidade hoje em dia como teoria. E, no entanto, há uma inércia enorme nas universidades, na opinião pública, na comunicação social, que continua a afirmar sem nada e isso devia-nos fazer pensar. Ou seja, a crítica foi feita, a alternativa não surgiu, ainda não pôde afirmar-se plenamente. As epistemologias do Sul é um projecto epistemológico que visa afirmar essa alternativa sem que seja uma alternativa, isto é, é a afirmação e outra maneira de ser, de estar, de pensar, de existir e de resistir. É um projecto tanto epistemológico quanto político.